O preço do feijão
não cabe no poema.
O preço do arroz
não cabe no poema.
Não cabem
no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão
(Trecho de Não há vagas, de Ferreira Gullar)
O presente artigo faz parte de uma série aqui no Esquerda Online em que debaterei a importância de nos debruçarmos sobre a saúde mental e os desafios e possibilidades para a militância. A saúde mental também tem adquirido centralidade em nossas trincheiras. Infelizmente, tal centralidade advém, em grande parte, pela via do sofrimento psíquico de companheiros, companheiras e camaradas, de modo que é premente que tratemos o problema não apenas teoricamente, mas no sentido organizativo, em termos de como o analisamos e reconhecemos, para pensarmos em como agir e abordá-lo. No primeiro texto1, procurei limpar o terreno sobre o que tem sido entendido hegemonicamente como saúde mental: em vez de sinônimo ou ausência de doença, como produção de vida, ou melhor, uma síntese ou expressão de como nos produzimos concretamente e nossa realidade concreta. Nessa segunda parte, darei continuidade à reflexão sobre como o aumento da relevância da saúde mental pode estar atrelado não apenas ao recrudescimento do sofrimento psíquico, decorrente da intensificação da precarização e piora das condições de vida da classe trabalhadora, mas a uma série de processos de produção “artificial” de sofrimento. Estes compõem, atrelado a outros processos, o que tratarei como saudementalização da vida e como temos que refletir criticamente sobre isso, bem como apresentar alguns horizontes, caminhos, mesmo que incompletos, insuficientes. Afinal, se agora tudo (ou bastante coisa) é saúde mental, bastante coisa problemática também estará presente neste amplo guarda-chuva. E mais, se ela é tudo (ou quase tudo), é nada (ou quase nada).
Nem tudo o que brilha é relíquia, nem joia!
Ora, e se, tal como discorremos no texto anterior sobre o caráter mistificador das concepções hegemônicas sobre o que seria saúde mental, estivéssemos vivendo uma epidemia de diagnósticos, ao invés de uma epidemia de transtornos mentais? E se todo o sofrimento que dizem que temos, ou melhor, se as máximas sobre nosso adoecimento crescente, sobre como estamos doentes, não forem necessariamente verdade, sendo, ao contrário, um efetivo e sofisticado mecanismo não apenas de mistificação da realidade – e daquilo que se pressupõe dizer e explicar –, mas de controle e de acumulação, de lucro? Ou, de maneira dialética, se não apenas houvesse uma produção generalizada e ampliada de sofrimento psíquico como processo de controle, mas, junto a isso, há o recrudescimento da psicopatologização da vida igualmente como estratégia de controle, de docilização, apassivamento das pessoas, sobretudo da classe trabalhadora?
Para quem acompanha um pouco dos debates críticos no campo psi (psiquiatria, psicologia, psicanálise) ou, em maior escala, da saúde mental (que vai além do campo psi, sendo ainda mais inter ou transdisciplinar), tal questionamento não é novo2. Contudo, tomando o público variado ensejado pelo texto – que vai além da militância –, talvez seja necessário começar nossa reflexão por tais indagações, por mais que possam entediar quem já está acostumado com o tema e a discussão – a estes(as), pedimos um pouco de calma, de modo que o restante do debate possa angariar novas reflexões ou, mesmo, fortalecer velhas impressões ou entendimentos.
Voltando aos questionamentos, propomos aqui uma reflexão sobre a produção generalizada e “artificial” do sofrimento psíquico via psicopatologização do cotidiano e toda a cadeia mercantil (e de controle) envolvida em tal processo: medicalização da vida e fomento do corporativismo médico-psiquiátrico (e psicológico) e da indústria farmacêutica; mercantilização e privatização dos processos de “cuidado”, fortalecendo toda uma indústria psiquiátrica, psicológica, quando não da loucura. Muito se fala – inclusive, por importantes entidades internacionais – da dita epidemia de “transtornos mentais”, de alguns deles como males do século, mas pouco se questiona sobre a determinação social destes, as próprias formas tradicionais de entendê-los (se é que se propõem a entendê-los, e não a meramente descrever sintomas), e menos ainda se indaga se tal epidemia não se trata de uma epidemia de diagnósticos. Grosso modo, por mais que possamos concordar que estamos sofrendo mais, em decorrência da precarização da vida, tal sofrimento também vem sendo banalizado e produzido em larga escala, tendo o campo psi como carro-chefe técnico-científico, ideológico e prática, cuja produção e gerência se apresentam como importantes ferramentas de controle da classe trabalhadora. Mais, como mecanismos de acumulação, já que quanto mais “loucura”, mais doença e, portanto, loucos e doentes, mais demanda e fontes de renda, lucratividade.
Vemos o desenvolvimento de um engenhoso aparato de controle-docilização que, por um lado, se expressa de maneira mais evidente e extremada no encarceramento de parcelas cada vez maiores da classe trabalhadora – negras, pauperizadas, periféricas, constitutivas do exército industrial de reserva – e, por outro, operando pela via da produção assujeitada de indivíduos, de maneira mais sutil e não menos perversa ou violenta, tendo no campo psi importantes fiadores. Em última instância, uma junção do complexo industrial-prisional com o complexo industrial-farmacêutico, ou, melhor dizendo, a subsunção do segundo ao primeiro, enquanto parte deste, conforme aponta Angela Davis3. Desenvolvendo a reflexão da fundamental militante revolucionária, temos, na forma do complexo industrial-farmacêutico, um complexo industrial-prisional em “liberdade” ou um complexo industrial-prisional “em meio aberto”5.
Temos estratégias de controle que se pautam não apenas no controle “tradicional” – por meio de processos de aprisionamento stricto sensu nas prisões propriamente ditas –, mas por outros âmbitos e saberes, como os da “saúde”, via instituições supostamente de tratamento igualmente aprisionantes, como os manicômios. A manicomialização como extremo (no âmbito da saúde mental) de controle, disciplinamento e segregação, andando de mãos dadas com o (hiper)encarceramento da classe trabalhadora – com ambos cada vez mais alargados em nossa sociedade. Já a psicopatologização e a medicalização consistem em mecanismos “soft” que, justamente, por não serem entendidos como ações de controle, são ainda mais insidiosos; o que dizer, então, dos procedimentos de assujeitamento, de captura das subjetividades que se valem do campo psi ou são concretizados pela própria?
Dada a sofisticação deste processo, o aprisionamento não precisa ocorrer inteira ou centralmente nas instituições coercitivas tradicionais – por mais que em nossa condição dependente, amplamente desigual, o encarceramento do massivo e superexplorado exército industrial de reserva (mormente negro) seja fundamental para a reprodução da ordem em seu atual estágio –, se dissipando também de maneira camuflada por outros meios. Na particularidade brasileira e de nosso capitalismo dependente de gênese e via de desenvolvimento colonial, os mecanismos hegemônicos de controle foram e ainda são aqueles mais explícitos, “hard”, como a guerra, militarização e o genocídio, evidenciando nossas estruturas classistas, racistas e patriarcais. Contudo, “apenas” eles são insuficientes, até mesmo pela sua brutalidade mais aparente (mesmo que mistificada), se produzindo de maneira consubstancializada a outras formas de coerção, controle (e consenso), pela via da produção de indivíduos assujeitados ou mesmo do sofrimento psíquico. Portanto, como já advertiram os Racionais Mc’s em “Eu sou 157”, “nem tudo o que brilha é relíquia nem joia”, de modo que o crescimento da relevância da saúde mental em nosso tempo, deve ser avaliado criticamente quanto às suas múltiplas determinações, mediações e implicações; sua gênese e função sociais.
Desprivatizar e não delegar! Ainda sobre o que entendemos por saúde mental, e pistas sobre o que fazer?
Todos estes processos, de psicologização e psicologização da vida – e que andam de mãos dadas com a medicalização desta – constituem o que aqui tratarei por saudementalização da vida. Tais processos, por sua vez, remetem a concepções privadas, privatistas sobre o ser humano como um indivíduo-mônada, atomizado, que se autoproduz e reproduz e, não obstante, tem suas “partes” igualmente entendidas de maneira apartada, fragmentadas e, também, como coisas em si, ou seja, numa continuidade individualizante e privatista. Não à toa, num passe de mágicas, corpo e mente passam a ser entendidos como entidades em si, dissociados um do outro, e, mais, do próprio indivíduo ao qual remetem, ou seja, autônomos. A saúde mental se diferencia da saúde (física), mas sem romper com a lógica individual privatista – pelo contrário, se pautando nela, a expressando e reproduzindo-a.
Não sendo suficiente, tal dissociação (ou, num sentido marxiano, alienação) se apresenta a nós de forma tão fetichizada que, por vezes, acreditamos sermos determinados por esse corpo, essa mente, num movimento de estranhamento. Ou seja, aquilo que diz da gente, toma a forma de uma entidade autônoma e que passa a nos regular, determinar; o ser é tornado objeto, mero produto, enquanto o corpo, a mente – de novo, como entidades autônomas – adquirem a condição de sujeito, do ser que age. O ser como coisa, a mente e o corpo como seres. É só passarmos os olhos nos best-sellers do momento para sabermos que nossas mentes que somos prisioneiros de nossas mentes, como elas são perigosas, afiadas, empreendedoras e que até são (ou podem ser) milionárias, nos fazendo crer não apenas na falácia da meritocracia, mas de uma meritocracia mental, subjetiva – pelo menos a culpa não é minha, mas da minha mente! E isto é farto não só na literatura de autoajuda, no coach e demais banalizações da lida com a vida, mas no campo psi de modo geral.
Ao nosso ver, inclusive, a passagem de certa hegemonia psicologizante ou psicanalizante para a de neuro ou cerebralização da própria mente ou da subjetividade (na amplitude de concepções existentes sobre elas), não rompe com o que aqui estamos discorrendo enquanto saudementalização da vida, mas diz do seu atual estágio de desenvolvimento, como ele é hegemonizado, e, em extensão, do próprio caráter dinâmico e processual da realidade e das disputas sobre ela. Mesmo sem negar a permanência e força da psicologização ou psicanalização da vida, vemos emergir a neuro ou cerebralização da mesma, formando uma amálgama, na qual a mente, as estruturas psíquicas ou cérebro nos explicam ou nos determinam, tal como o fazem com nossas vidas nas suas mais variadas esferas. Observamos como há um processo de sofisticação e complexificação das ideias, acompanhando o próprio desenvolvimento dos meios de produção, das relações de produção, conformando-as.
Nesse sentido, não só se mistifica a condição do indivíduo como ser social, que se faz nas e pelas relações sociais, por meio da sua própria ação, atividade – mas não nas condições necessárias ou desejadas; não só se descaracteriza a nossa condição como ser singular, mas cujas singularidades são expressões únicas da universalidade humana e de como esta se concretiza singularmente mediada pelas particularidades sociais que conformam a totalidade social capitalista e nossa formação (ainda mais) particular. Vai-se além: somos nossas mentes, ou melhor, elas nos são. Logo, em vez de um ser social, o máximo que conseguimos é: uma mente social – ou um cérebro social. Ainda como implicações disto, temos que os problemas que alijam concretamente o ser nesta concretude social e histórica são, pois, problemas mentais (ou cerebrais). Por fim, não só o entendimento, mas a tratativa destes se dá obrigatória e fundamentalmente pelo prisma ou via do “mental” (quando não são exclusivamente “mentais”) e pelas construções ideológicas, no marco da parcialização do conhecimento e da divisão social do trabalho, que historicamente dizem sobre o “mental”: o campo psi, pois, como vimos anteriormente, as próprias concepções hegemônicas sobre saúde mental como sinônimo ou ausência de doença, acabam por alijar outras ciências ou profissões.
Pobreza? Pense rico ou, na pior das hipóteses, faça terapia. Fome? Idem. Racismo, machismo…? Terapia. A terapia como panaceia, cada vez mais difundida como bala de prata para todos nossos males. Quando não é para tomar um remédio, trazendo a medicalização da vida também como panaceia. Mesmo nos casos em que não há tal banalização, não sendo, portanto, tão caricatos, o máximo que se tem é a lida com os sintomas, com os desdobramentos “psíquicos”, “subjetivos” de nossa realidade objetiva, o que, por sua vez, nos denota (ou deveria denotar) o caráter limitado e, mais, contraditório das armas psi, como, por exemplo, a psicoterapia, a medicação, dentre outras possibilidades. Ora, nunca tivemos tantos(as) psicólogos(as), psiquiatras; nunca tivemos tanta oferta de psicoterapia; nunca fizemos tanta terapia. Por mais que não sejam eles e elas responsáveis pela transformação da realidade – por mais que se venda isso –, o que isso tem reverberado em termos de melhoria da realidade, da vida?
Precisamos desprivatizar o entendimento e o cuidado no que se refere à saúde mental. Novamente, saúde mental não como ausência ou sinônimo de doença, não como algo individual-privativo, mas produção de vida. A saúde mental das/nas singularidades de cada um(a), ou seja, como os indivíduos se produzem singularmente, mas cuja produção expressa singularmente a forma como a humanidade se produz nos marcos do modo de produção capitalista e, nele, de nossa formação social, um país de capitalismo dependente, de gênese e via de desenvolvimento colonial, profundamente desigual, racista, machista, sexista LGBTfóbico etc.
Saúde mental, portanto, não é propriedade privada de médicos, psicólogos, psicanalistas e demais categorias profissionais circunscritas à divisão social do trabalho no capitalismo, por mais que estas atuem “nela”. Aliás, nesse sentido, questionamos: se a saúde mental é produção de vida, qual profissão que lida com pessoas, com gente e que não atua “na”, “com” saúde mental? Um breve exemplo: os impactos que um economista, como um Paulo Guedes, ou um sociólogo, mas que ocupa a cadeira de Ministro da Economia, como Fernando Haddad, têm na saúde mental da população brasileira, superam qualquer impacto que um(a) psicólogo(a) ou o conjunto de psicólogos(as) poderão ter na vida das pessoas, na saúde mental da população brasileira.
Aproveitando dos exemplos acima, podemos constatar, inclusive, que políticas de pleno emprego, de redução da carga horária de trabalho são, pois, políticas também de saúde mental. Mais, reforma agrária, mobilidade urbana, políticas habitacionais, de alimentação saudável… todas elas – e muitas outras – são, também, políticas de saúde mental.
Falar sobre saúde mental, quebrando com a lógica de saudementalização da vida requer, portanto, na superação de como ela é hegemonicamente entendida e, nisso, de como ela é abordada. Tudo isso nos faz refletir, inclusive, que a saúde mental sempre esteve na pauta do dia, sempre foi debatida, não sendo algo novo, só que não se chamava isso de saúde mental. O que está crescendo é o foco, a forma como ela vem sendo debatida e tratada, pela via cada vez mais hegemônica da saudementalização, inclusive, mistificando, descaracterizando a sua própria constituição, a sua própria complexidade, ao localizar os problemas no indivíduo (ou melhor, na mente, no cérebro etc.). Há de se questionar, então: quanto mais lidamos com a saúde mental dessa forma, não negamos as outras inúmeras formas de se lidar com ela? Por outro lado, é necessário lançar luz sobre a saúde mental, em especial no que ela tem de especificidade, algo que pode ser negligenciado caso não se lance tal luz nela, tratando-a transversalmente e de maneira apagada. Temos, pois, (mais) uma contradição, a qual gerenciamos com as devidas mediações. Não tendo isso em mente, podemos, justamente, reproduzir a máxima de que tudo é saúde mental e que, portanto, não há nada nela de específico a se debruçar, se atentar e fazer.
Isso nos traz à necessária reflexão de que a saúde mental não pode ser tratada exclusivamente na forma de terapia ou encapsulada em psicofármacos; saúde mental, remetendo à produção de vida, não é mero alvo de terapia ou sinônimo desta. Como acabamos de dizer, aliás, ela não é; só que achamos e defendemos historicamente que seja. Relegar o seu tratamento à clínica é descaracterizá-la enquanto produção de vida, por mais que, no processo de abordá-la, possamos lançar mão da psicologia, psiquiatria etc. Aliás, essa breve reflexão, deve nos fazer questionar como ousamos colocar na conta de um modelo ou formato tão restrito, como a clínica em seu modelo autônomo-liberal, a responsabilidade por algo que é tão complexo ou, pior, que é coletivo, tem um caráter social (pois do ser como ser social), cujas respostas devem, portanto, ser coletivas, ampliadas, desprivatizadas?
Nisso, mesmo as formas tradicionais de se lidar com a saúde mental, como a psicoterapia, a clínica de modo geral, a despeito do que se construiu historicamente, são privativas, devendo ser igualmente desprivatizadas. Mesmo elas, que supõem lidar com o singular, o tomam hegemonicamente como sinônimo de individual-privativo e não como singular, de fato, podendo e devendo ser desprivatizadas. Afinal, o singular só é singular enquanto concretização de múltiplas determinações e mediações; uma síntese das relações sociais que o indivíduo estabelece com os outros, com o mundo, com as coisas, ao passo que ele é as relações sociais que nele e por ele se manifesta e nele e por ele se materializam, estão encarnadas e, com isso, nossos antagonismos societais (de classe, raça, etnia, gênero, sexualidades…). Isso não significa – como também é comum – simplesmente trabalhar com grupos, como se o social fosse sinônimo de coletivo, grupal; por mais que tal possibilidade também não deva ser descartada a priori. Como dizia Ignacio Martín-Baró não se deve centrar “tanto em como se está realizando algo”, mas em benefício de quem”. O como é secundário – o que não significa que seja irrelevante –, se individual ou grupal, quais os procedimentos a serem utilizados devem advir da ampla apreensão, que deve ser compartilhada, não podendo ser algo apenas “do(a)” psicólogo(a), “do(a)” psiquiatra etc., mas uma construção conjunta, advinda da apreensão acerca da própria realidade de todos(as) aqueles(as) que constituem tal realidade, que dizem da singularidade que está sendo abordada; ou seja, a quem tal processo se volta ou se refere. Inclusive, a própria realidade é mestra em nos indicar caminhos, horizontes; ela mesmo nos mostra os “comos”, afinal, estes estão contidos nela, dizem dela, são ela.
Ora, se o indivíduo tem classe, raça, etnia, gênero, sexualidade isso não remete à forma como nos organizamos enquanto sociedade, que nos produzimos e, nisso, produzimos nossas vidas? Portanto, tudo isso não deve estar no campo de “visão” e “atuação” no que se refere à lida com o indivíduo na sua singularidade. Ao mesmo tempo que isso denota as limitações e contradições – já mencionadas – das formas tradicionais de abordagem à saúde mental, sobretudo quanto ao cuidado, à assistência, se queremos que elas abordem a saúde mental – mais uma vez, como produção de vida –, elas necessitam de serem desprivatizadas.
Ainda nessa direção, se José se faz na relação com seus filhos, Maria e João, com sua esposa, Fernanda, seus pais, avós e demais familiares; se ele trabalha em tal lugar, e esse trabalho diz de sua condição como trabalhador e, mais, também diz de sua situação socioeconômica, reverbera nas relações que estabelece, no seu acesso ou não a direitos, na sua dinâmica de vida como um todo; se nesse trabalho, ele possui maior identificação e proximidade com Joaquim e Cristina; se ele teve uma vida difícil, de escassez; se ele gosta de tomar uma cerveja, assar uma carninha e jogar bola com amigos no fim de semana; se acompanha seu time de coração semanalmente… ora, se tudo isso – e muito mais – dizem do José enquanto totalidade múltipla e singular, tudo isso deve ser considerado e trabalhado na assistência do José, no processo de cuidado de José. E considerado aqui não apenas num sentido de “escuta”, mas trabalhado conjuntamente, afinal dizem da forma como o José se produz e, nisso, de sua saúde mental, de como ela expressará essa trajetória de vida, essa condição de vida. Se tudo isto constitui o José como singularidade, constitui (ou deveria constituir) o seu processo de cuidado, de assistência. Mesmo a clínica, a psicoterapia, no caso de seu José, deve ser (re)pensada nesse sentido de desprivatização e, por conseguinte, de despsicologização.
Continuando, é necessário a construção de um processo de cuidado que não se feche em si, que não tenha a si como fim – para além de retórica –, entendendo que o cuidado se orienta a uma produção de vida mais humanizada, menos alienada e alienante, de modo que o cuidado não se restringe ao momento da interação com a(o) psicoterapeuta ou profissional psi e da saúde. Pelo contrário, o grosso do cuidado está fora das paredes dos consultórios e, nisso, diz do José como ser ativo, agente de seu próprio cuidado, pois de sua própria vida. Numa relação dialética, o chamado paciente, ou seja, o ser que espera, que é mero objeto (do campo e profissional psi), é o impaciente no sentido do ser que age, o agente. E o profissional psi, o campo psi de modo geral – teórica e praticamente – é ator de mediação, fortalecimento, orientação, mas jamais o ser principal nessa ação. Isso não significa reproduzir concepções e posturas individualistas, meritocráticas que recaem em culpabilização, do tipo “só basta você…, logo, se não conseguiu o problema é seu”, mas diminuir o poder que o campo psi tem sobre as vidas das pessoas, de modo que há um fetichismo psi reproduzido e reforçado, no qual o “conhecimento sobre si”, o “cuidado”, só pode ser feito via psicologia, via psiquiatria, via campo psi. Em suma, o processo de cuidado, mesmo pela via da clínica e da psicoterapia nos seus modelos autônomo-liberais, deve se orientar a não ser mais necessárias; devem fomentar a sua não importância; devem contribuir para uma apreensão, a uma conscientização de que elas não são “o” cuidado, “a” assistência.
Urge que repensemos a clínica, a psicoterapia e a transformemos. O que conseguiremos fazer em termos de mudança, é a realidade e nosso movimento nela e com ela que dirão. Contudo, é premente que repensemos as formas tradicionais de se lidar com a saúde mental o que, por sua vez, remete à superação da lógica de saudementalização da vida.
Para isso, temos alguns exemplos históricos importantes que carecem de ser relembrados e ressaltados. O primeiro diz respeito às lutas do movimento feminista quanto às lutas referentes à esfera do cuidado. O que podemos resgatar disso e aprender com ele? Primeiro, que o cuidado é coletivo, é responsabilidade de todos(as). O segundo, é que é responsabilidade do Estado. Tal como ele deve se responsabilizar pela criação e manutenção de creches, lavanderias, instituições assistenciais para crianças, idosos etc., ele deve se responsabilizar pela ampliação e fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no campo da saúde mental, numa lógica e sentido antimanicomial. Portanto, devemos cobrar o Estado pela implementação de mais Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Residências Terapêuticas (RTs), leitos e enfermarias em hospitais gerais em saúde mental, álcool e outras drogas, Unidades de Acolhimento (UAs), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Convivência, consultórios na rua, dentre vários outros serviços, sobretudo os de caráter territorial-comunitário, e seus respectivos níveis assistenciais no âmbito da RAPS. O cuidado em saúde mental deve ser público! Contudo, como vimos argumentando – e o próprio exemplo aqui resgatado nos ensina –, devemos nos mobilizar por instituições, políticas e ações de esporte, lazer, cultura, educação crítica e socialmente referenciada, de fomento à socialização mais humanizada, à potencialização dos laços, grosso modo, por políticas de outros setores, não só a saúde (assistência social, educação etc.) e, sobretudo, de caráter universalista, que propiciem melhores condições de vida e, portanto, de saúde mental.
Quanto ao primeiro aprendizado decorrente do resgate das lutas feministas, gostaríamos de fortalecê-lo, ao somá-lo com os ensinamentos dos povos originários, oriundos das formas como pensam e se relacionam consigo mesmo, com o mundo e com a natureza e, nisso, como constroem suas formas de cuidado. Evitando aqui uma homogeneização de tais povos, reproduzindo velhas e comuns caricaturas e essencialismos, o que tais povos e suas formas de viver – na sua diversidade – deveriam nos ensinar é, justamente, que o cuidado é coletivo, passa pela produção de relações menos alienadas, diz de indivíduos que se fazem nas relações com os outros e que, portanto, tal cuidado está no fortalecimento de tais relações, do outro, da natureza; a assistência é de base comunitária, no território onde as pessoas se fazem e o fazem, o são. Com isso, aliás, questionamos tantas outras formas supostamente de cuidado que, mesmo não passando pelos meios tradicionais do campo psi, não rompem com a lógica individual-privatista, como as ditas perspectivas de autocuidado. Ora, a partir do exposto, podemos o auto está no outro. Está no fortalecimento das relações, está produção de laços sociais (mais humanizados, menos alienados), em alguns casos, o rompimento de vínculos que nos oprimem, machucam, mas sem negar nossa própria condição de seres sociais; passa pelo entendendo que compomos um grande sociometabolismo e fomento a uma dinâmica de vida menos apartada, atomizada, coisificada, em suma, alienada.
Por fim, outros dois movimentos que muito têm a nos ensinar quanto ao cuidado, à assistência à saúde, desde a forma como conceberam e concebem saúde até como se organizam para materializar tal assistência, são os Panteras Negras e o Movimento Zapatista5. Novamente, num caráter aqui sintético e simplista sobre estes movimentos – com todos os problemas da simplificação –, devemos responsabilizar o Estado pela assistência em saúde mental, mas sem desconsiderar perspectivas autogestionárias, comunitárias, de autocontrole da classe trabalhadora acerca da sua própria saúde e como ela é cuidada, assistida: “por um lado, uma demanda por um sistema universal de saúde fornecido pelo governo, e, por outro, uma política de autodeterminação”7. Lembremos – e reforcemos – uma das palavras de ordem do campo da saúde do trabalhador no Brasil nos anos de 1970: não delegar! Devemos lutar pela real democratização da saúde que implica na real democratização sobre a produção de vida. Neste processo, temos que necessariamente pensar na recuperação, criação ou fortalecimento de nosso protagonismo enquanto classe trabalhadora, a partir de nossas necessidades e possibilidades, numa perspectiva comunitária, de autodeterminação e independência; serviços, ações e iniciativas nossas, por nós, para nós, pautadas na e pela solidariedade de classe (conscientemente racializada, gendrada etc.).
Não propomos aqui uma desconsideração do que o campo psi pode nos legar, do que pode contribuir, muito menos queremos desconsiderá-lo a priori. Muito menos, estamos diminuindo a necessidade de oferta assistencial a quem dela necessita; pelo contrário, acabamos de defender o fortalecimento da RAPS, como um exemplo da necessária assistência – que a nosso ver deve ser pública, pois um direito, e antimanicomial. Nessa toada, também não somos “contra” a psicoterapia, a medicação. O que queremos é nos apropriar realmente sobre nossa saúde, em extensão, sobre como nos produzimos. Nisso, contribuir para a superação do poder de tal campo enquanto forma essencialmente privativa de se lidar com a saúde mental, bem como o que o sustenta, o que ele sustenta e o que acaba por se utiliza no intuito de nos dizer o que somos e o que temos que fazer, só que numa relação de subordinação ao próprio – e, como vimos, que não necessariamente condiz com a realidade.
Caminhando para um fim, que esperamos ser mais uma abertura (ou conjunto de aberturas) do que um fechamento, reproduzimos, mais uma vez, fragmento da análise de Martín-Baró sobre saúde mental:
se a base da saúde mental de um povo encontra-se na existência de relações humanizadoras, de vínculos coletivos nos quais e pelos quais se afirma a humanidade pessoal de cada um e não se nega a realidade de ninguém, então a construção de uma sociedade nova ou, pelo menos, melhor e mais justa, não é somente um problema econômico e político; é também, e por princípio, um problema de saúde mental.
Se se entende saúde mental dessa forma, atrelada à produção de vida, na concretude de nossa realidade, expressando-a, mas também conformando-a, negando-a, inclusive, temos, então, concordância de que não só a saúde mental importa, como deve ser ainda mais abordada, debatida. Isso não significa reproduzir o que aqui estamos criticando, de que tudo é saúde mental (e, portanto, nada). Cabe, inclusive, e aí o campo psi e, além dele, o campo da saúde mental, podem contribuir – considerando as ponderações aqui apresentadas – abarcar estas especificidades, o que se expressa em termos de saúde mental, tendo o singular como forma de acesso e tratativa; as vivências e experiências dos indivíduos e o que fazem (ou podem fazer), como lidam (ou podem lidar) com suas próprias condições e produções de vida. Obviamente que o aqui propomos diz de um processo social complexo, permanente, e que, por isso mesmo, traz consigo uma série de dificuldades para a sua realização. No entanto, penso que a militância, enquanto forma de se organizar e agir coletivamente para a transformação da sociedade – aqui no caso, num horizonte socialista, comunista – cumpre um papel fundamental de denúncia e, nisso, de politizar a saúde mental e a lida com ela. Abordarei isso no próximo texto.
*Pedro Henrique Antunes da Costa é Professor de Psicologia na Universidade de Brasília



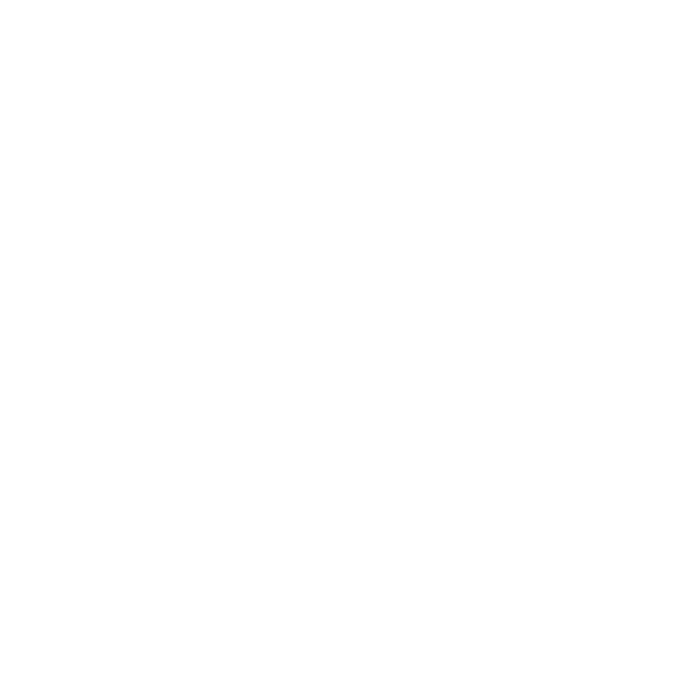
Comentários