Quem nunca desejou ser uma paquita ou uma ajudante de palco dos programas infantis televisivos da década de oitenta, que atire a primeira pedra? Certamente já devo ter arremessado incontáveis! Ser uma garota negra naquela época não era fácil, e naquele momento não havia em mim uma gota de desejo, principalmente por tratar-se de estereótipos que nunca couberam em mim, não me sentia representada e ponto.
Porém, a questão não era ser representada, até porque esse termo somente fez sentido, para mim, há pouco, e sim, o fato de ter a consciência de que o que vivemos ao longo de anos de invisibilidade era fruto da total falta de representatividade. O que Lélia Gonzalez diria caso se deparasse com a assistente de palco (única negra) – com o corpo exposto e sensualizada, ao extremo, sendo usada como “referência” para garotas negras? Penso que as mídias devam sim ser responsabilizadas como perpetuadoras de um sistema que estratifica e propaga falsos estereótipos.
Quando percebi que as bonecas não me representavam, também, foi outro golpe porque dali em diante vi outro abismo – além de não ter o tipo físico que seguisse aos padrões eu não queria brincar de mamãe e bebê, aliás, até me via fazendo isso, mas era mãe solo, trabalhando fora (sendo muito bem remunerada, já era feminista, sem saber) e feliz com a “minha cria”. Quantas questões cabem aqui? Quantas referências?
Conforme crescia, fui percebendo que as distinções foram se mostrando cada vez mais evidentes, a pré-adolescência é uma fase difícil porque o “apartheid” era inevitável, foi nessa época que me percebi diferente, uma diferença que se fazia necessária – eu tinha uma armadura, os livros, percebi que estar no rol dos alunos inteligentes me deixaria distante de ser vítima do movimento segregacionista que era a escola e seus grupos – sem querer já seguia aos ensinamentos de Bell Hooks que sabia a importância de ser inteligente, mas não inteligente demais.
Foi nos livros que me percebi, foi por meio dos contos e romances do mago das letras que me fiz. Nas personagens, vi que poderia facilmente me colocar em seus lugares, as características eram propositalmente substituídas pelas minhas, sabe a Helena de Machado de Assis? Prazer! Capitu, fui também, sem quaisquer remorsos. A partir dessa armadura vi que eu poderia tecer minhas críticas ao que considerava errado (aflorando o lado progressista), era antibullying desde sempre.
Nesse momento, passei a ser respeitada e vista como a “nerd”, isso me fortaleceu, deixou-me um pouco mais à vontade para ser quem eu era. No entanto, essa é uma técnica falaciosa porque ainda que funcione por um tempo e em determinados espaços não seria suficiente para proteger das máculas de um sistema que faz recortes e finge que não o faz.
A adolescência passou – Ufa! Chegou a faculdade, aqui o recorte foi maior porque o meu acesso à educação superior não foi por meio das políticas públicas – na minha época elas eram tímidas. Ao chegar na faculdade, a percepção de classe, raça e gênero é absurda, a ponto de eu ser uma das três alunas negras da classe. Minha mãe é professora, sou órfã de pai, acho que acaba sendo uma realidade de muitos, ou seja, não estou inventando a roda, mas penso que as teorias sejam criadas a partir de nossas experiências, do contrário, são praticamente nulas.
Na academia, a minha postura não foi muito diferente de toda a minha vida escolar, sempre fui aquela que preferia destacar-se pelo intelecto – no fundo, apesar de reconhecer-me negra e mulher era como se ainda me faltasse algo, não tinha entendido o meu papel. Durante o curso tive muitas professoras, poucas delas eram negras, mas as duas que tive me inspiraram nesse processo de acreditar mais em mim, foi nesse momento que percebi o valor da representatividade e quanto é importante que percebamos desde cedo sua relevância para a vida.
Passaram-se quatro anos, enfim, diplomada – outras perspectivas me aguardavam, estava pronta, não tinha medo de nada, até encarar a primeira turma de adolescentes, isso mesmo! A minha primeira experiência como professora foi com uma turma de aceleração, em uma escola de classe média, que atendia ao público com histórico de reprovações, quando assumi a turma foi no início do segundo bimestre (era inexperiente demais para saber que substituições assim são caóticas). Enfim, meu primeiro desafio consistia em não ser devorada pelos alunos já no primeiro encontro, passei! Os dias se passaram, os alunos já não eram tão hostis como no início, com o tempo aprenderam a me respeitar como profissional, e entender que eu estava ali para ajudar.
No entanto, o enfrentamento mais complexo foi a relação com a diretora da instituição que claramente não me “aceitava”, fui selecionada pela coordenadora, a época. Dessa forma, a diretora me propôs elaborar e corrigir as provas e que não me preocupasse com planos de aula ou entrar em sala de aula porque ela já havia resolvido, contratou uma nova professora com um perfil mais “adequado” ao dos alunos. Mas, eu além de preparar e corrigir as provas poderia também assumir uma vaga, como monitora, na educação infantil – agradeci a proposta, engoli o choro e dei as costas.
Do ocorrido até hoje passaram-se mais de 12 anos e ainda tenho em mente todo o horror que vivi naquele lugar, com aquela mulher. Essa situação marcou-me de forma bem significativa, desse momento em diante aprendi que se eu não me impusesse, esse horror me engoliria, quando Lélia Gonzalez dizia que “a gente não nasce negro, a gente se torna negro” e defende que é uma conquista, trata-se exatamente disso, é um conquistar diário – daquele dia em diante decidi viver de nariz empinado e não aceitar qualquer forma velada de racismo.
Essa percepção não é prerrogativa só minha, e, infelizmente, não serei a última porque o racismo é estrutural. Sueli Carneiro explica o que ocorre quando não há essa percepção de identidade do negro, seja de pele clara ou escura, que seria o não reconhecimento de nós mesmos, e, supostamente o que deveríamos ser, em suas palavras, “temos sido ensinados a usar a miscigenação ou a mestiçagem como carta de alforria do estigma da negritude: um tom de pele mais claro, cabelos mais lisos ou um par de olhos verdes herdados de um ancestral europeu são suficientes para fazer alguém que descenda de negros se sentir pardo ou branco, ou ser ‘promovido’ socialmente a essas categorias. E o acordo tácito é que todos façam de conta que acreditam.”
O erro disso é tentar nos fazer comprar essa ideia de que haja uma espécie de termômetro para determinar o grau de negritude para caber nos espaços devidos, o que Sueli Carneiro chama de classificações cromáticas. Assim, o debate que precisa ser fomentado, discutido acaba por nem ocorrer porque a falácia do espantalho já está disposta.
Essas pequenas violências fazem parte do cotidiano do povo negro. Uma violência de fala, de gestos, de estrutura física e psicológica porque vai nos impedindo, tolhendo nossas capacidades de raciocinar, formatar nossas ideias, construir identidades porque é premente que sejam forjadas sob o ponto de vista de uma identidade histórica que deveria estar e ser presente nos livros, que deva ser feita, produzida, montada e contada por nós, sob as nossas perspectivas e não mais esse processo do centro para as margens, a ideia é que seja da margem ao centro parafraseando Bell Hooks.
Por isso, as mudanças devem ser nas estruturas e brigar por representatividade, sermos radicais a ponto de não abrir mão de nenhum direito a menos, pois “a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar.”
Como educadora vejo que o papel de educar para o diverso é uma construção coletiva, em meio ao caos que vivemos, apesar dos avanços sempre fomos povos de luta e de coletivo, não por isso nossa referência são os quilombos e o sentido denotativo que eles têm. Assim, o sentido dessa busca é nos fazermos vistos e lembrados, que os legados sejam sempre reforçados pelas gerações que precedem, salve Tereza de Benguela, salve julho das pretas!
NOTAS
1 – CARNEIRO, Sueli. RACISMO, SEXISMO E DESIGUALDADES NO BRASIL. 6. A dor da cor.









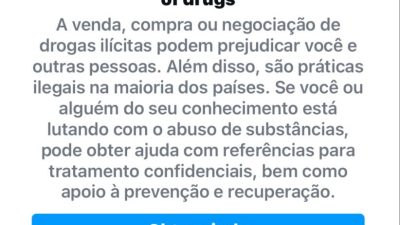
Comentários