Alvaro Bianchi
 Nos anos 1990 quando Maria Cecíllia Manzoli Turatti e eu cursamos a graduação em Ciências Sociais, o mar estava revolto para qualquer um que quisesse navegar no barco do pensamento crítico. O colapso do socialismo irreal no Leste europeu, a hegemonia avassaladora da ideologia e do programa neoliberal, o recuo dos movimentos sociais, as derrotas eleitorais de 1989 e 1994, tudo indicava que a esquerda e o pensamento crítico a ela associado passariam por longos anos de completa defensiva. E passaram.
Nos anos 1990 quando Maria Cecíllia Manzoli Turatti e eu cursamos a graduação em Ciências Sociais, o mar estava revolto para qualquer um que quisesse navegar no barco do pensamento crítico. O colapso do socialismo irreal no Leste europeu, a hegemonia avassaladora da ideologia e do programa neoliberal, o recuo dos movimentos sociais, as derrotas eleitorais de 1989 e 1994, tudo indicava que a esquerda e o pensamento crítico a ela associado passariam por longos anos de completa defensiva. E passaram.
Na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo as águas eram ainda mais perigosas para a navegação. Em 1989 a aula magna ministrada pelo professor Francisco de Oliveira teve como tema a crise dos paradigmas explicativos das ciência s sociais. A brilhante conferência foi carregada de pessimismo e levantou problemas de difícil solução, antevendo a sua maneira o que estava por vir. Na Faculdade não foram poucos os que interpretaram de modo unilateral essa aula. Para estes, a crise dos paradigmas parecia não atingir Durkheim, condenado miseravelmente a um capítulo ultrapassado da história intelectual, nem Weber, travestido agora de arguto defensor da reforma do Estado. Curiosamente assimilaram a crise dos paradigmas como a revelação da crise de um paradigma, o paradigma marxista.
Para sustentar essa interpretação um passado mitológico foi anunciado. Nele o pensamento marxista imperava soberano nas ciências sociais, impondo sobre a produção do conhecimento seus dogmas e esquemas. Não apenas o marxismo, como também sua vulgata althusseriana, também ela dominante nessa mitologia, eram culpados pelo embotamento dos cérebros e por um clima de caça as bruxas. Essa narrativa abria as comportas para o livre curso das novas narrativas pós-modernas e para as velhas idéias liberais. Mas ela permitia, também, que muitos professores se auto-reconhecessem nesse mito como as pequenas luzes que teimavam em iluminar as trevas trazidas pelo marxismo, bem como justificar a adesão destes ao programa neoliberal que se expressou na plataforma política do governo de Fernando Henrique Cardoso. Cercada pela plebe ignara a cortesãos iluministas festejavam seu filosofo-rei.
Como disse, esse passado era mitológico. Nele não havia ditadura, cassações, demissões e censura. O controle ideológico denunciado pela Adusp no memorável O livro negro da USP: o controle ideológico na Universidade, aparentemente não havia afetado a FFLCH. O Brasil estava mergulhado nas trevas, mas de acordo com a fantástica narrativa, na USP o marxismo e os marxistas dominavam tudo. Esse mito não deixou, entretanto, registro arqueológico algum. Nas teses e dissertações produzidas, nos artigos publicados e nos livros lançados não há indícios de que essa narrativa tivesse algum nexo, mesmo que ténue, com o passado realmente vivido. Como era de se esperar o mito também não teve seu Homero para sistematizá-lo e narrá-lo. Seja por falta de talento ou por simples vergonha, ele instituiu-se apenas como “tradição oral”.
Como se sabe, os mitos tem sua eficácia e força material. Para os que estudaram naqueles anos e queriam navegar contra a corrente essa eficácia e essa força pareciam avassaladoras. A razão não costumava ser um bom argumento. Não adiantava tentar explicar que a crítica ao reducionismo e ao determinismo eram lugares comuns em boa parte do pensamento marxista. Ou recorrer aos escritos histórico-políticos de Marx para revelar a complexidade de seu pensamento e sua abertura às múltiplas dimensões da atividade humana. Paradoxalmente os narradores não conheciam muito mais do que a vulgata e era um pensamento vulgar que imputavam a Marx. Tudo era posto na conta das grandes narrativas e do grande narrador, o barbudo de Trier.
Mas o barbudo de Trier não teria culpa registrada no cartório da ciência? Quantas vezes foi acusado de economicista e reducionista? Tantas vozes diferentes poderiam errar sobre a mesma questão e chegar à idêntica conclusão? Nas ciências sociais a acusação vinha de todos os lados, mas era a antropologia a disciplina que podia fazer a pergunta com mais pertinência. O olhar do etnógrafo, treinado para enxergar aquilo que há de particular em uma comunidade era perturbado por aquelas passagens do texto marxiano nas quais uma história universal parecia se desenhar. Não são poucas essas passagens, mas talvez a mais conhecida é aquela que ocupa seu lugar no prefácio a O Capital:
“Mesmo quando uma sociedade chega a descobrir a pista da lei natural do seu movimento — e o fim último desta obra é desvendar a lei económica do movimento da sociedade moderna —, ela não pode nem saltar por cima nem pôr de lado por decreto fases de desenvolvimento conformes à natureza. Mas pode encurtar e atenuar as dores do parto.”
O desconforto provocado por essa passagem poderia ser reforçado pelo capítulo XXIV, aquele referente à chamada acumulação primitiva, no qual Marx descreveu o processo de expropriação de grandes massas de homens – principalmente produtores rurais – de seus meios de subsistência e o destino destas como proletários livres (vogelfreie). Não era a descrição em si o que poderia criar o mal-estar e sim a afirmação contida nesse capítulo de que esse processo poderia generalizar-se, “ainda que segundo o contexto ele mude sua cor local, ou se restrinja a um círculo mais estreito, ou apresente um caráter menos fortemente pronunciado, ou segundo uma ordem de sucessão diferente” das diferentes fases.
Do encontro do prefácio à segunda edição de O Capital com seu capítulo XXIV emergiam duas teses essenciais para uma filosofia da história. A primeira delas anunciava o caráter irreversível e linear do tempo. Encerrando os diversos momentos históricos em diferentes etapas bem demarcadas, o movimento da história era reduzido a uma ordem de sucessão que não poderia ser revertida ou subvertida. A sequência dessas etapas era definida pela segunda tese, a qual subordinava o movimento histórico a uma ordem externa a ele próprio, imposta por leis econômicas que pareciam encontrar seu fundamento na própria natureza humana.
Não são poucas as vezes nas quais Marx parece sucumbir a uma filosofia da história capaz de arrumar os acontecimentos humanos e dar-lhes inteligibilidade. Arranjados desse modo e tornados cognoscíveis, tais acontecimentos poderiam integrar-se perfeitamente ao mecanismo de uma história universal cujo desfecho seria previamente estabelecido. Olhando a partir do século XX não foram poucos os que denunciaram essa operação. Mas no século XIX havia como resistir à força de uma filosofia da história e da idéia de uma história universal? Não era apenas a filosofia da época, ainda impregnada pelas idéias de Kant e Hegel o que tornava esta força irresistível, era o próprio movimento da história.
Sim, o capital era uma força social com uma clara tendência à generalização e à universalização. As relações sociais previamente existentes dissolviam-se em sua correnteza. Tudo o que parecia sólido, e que como tal havia até então resistido aos séculos, esfumava-se rapidamente no ar. A dinastia Ming pôde resistir durante centenas de anos aos povos invasores, mas a China não pode suportar o avanço comercial da Inglaterra e a diplomacia das canhoneiras desta; bastaram as duas guerras do ópio para que os portos do grande império fossem abertos.
Mas a música do século XIX não era cadenciada apenas pelas botas do capital. Essa foi também a centúria das revoluções e contra-revoluções; do nascimento do moderno movimento operário, com suas greves e sindicatos; das barricadas; dos massacres e fuzilamentos; de batalhas travadas em continentes distantes; das guerras de independência na América Latina; e de uma tensa paz na Europa. A coreografia improvisada da luta de classes recusava a música previsível da reprodução ampliada do capital e colocava em apuros a ordem imposta por uma filosofia da história.
Marx procurou interpretar essa coreografia ressaltando as dissonâncias que a política introduzia na música do capital. Foi por meio de uma miríade de artigos e folhetos – alguns rápidas anotações, outros alentados estudos – que procurou levar essa tarefa a cabo. Ao invés dos traços universais de um evento, os quais permitiriam reconduzir este a seu lugar em uma história pré-determinada e pré-ordenada, o olhar atento destacava aquilo que havia de particular nos conflitos sociais, na cultura de uma nação ou na personalidade de um indivíduo. A história não se repete, e quando esta parece repropor-se não o faz mais como tragédia e sim como farsa, pastiche de si própria. Nesses escritos não havia lugar para uma filosofia da história e muito menos para uma história universal.
O pensamento marxiano oscilará constantemente entre aquela música e esta coreografia; entre uma história universal do capital e uma historia particular da luta de classes; entre uma filosofia da história e uma história do contingente. Não se trata de imaturidade, inconsistência ou inconclusividade. Essa oscilação é própria da complexidade do real, da diversidade do tempo do capital e da luta de classes. Teria sido mais fácil adotar uma única perspectiva e escolher entre a intelecção do universal ou a narrativa do particular. Mas o resultado dessa escolha, feita por muitos no século XX, tenderia a ser mais pobre do que aquele produzido pela sua recusa.
Era nessa recusa que se poderia fundar uma antropologia inspirada na obra de Marx. Afastar a tentação de uma saída fácil implicava, entretanto, em assumir um risco elevado. Não foram muitos os que enfrentaram esse risco, mas houve quem o fez. O livro de Maria Cecília Manzoli Turatti destaca de modo competente as dificuldades de se pensar uma antropologia marxiana e uma antropologia fundada na obra de Marx. A autora privilegiou o diálogo com os franceses e não deixou de destacar o profundo vínculo destes com o conhecimento antropológico produzido nesse país. Nessa escolha ficaram de fora pesquisadores simpáticos às idéias de Marx, os quais seguindo a trilha de Leslie White renovaram a antropologia nos Estados Unidos. Não espere pois o leitor ver os nomes de Elman Service, Eric Wolf ou Marshall Sahlins neste livro.
A opção da autora não é, entretanto, arbitrária e pode ser considerada plenamente justificável. Há muito de uspiano na escolha dos estudiosos investigados. Claude Levi-Strauss cravou seu nome no coração da antropologia produzida nessa casa e embora hoje não seja senão uma referência muito remota nunca deixou de ser reverenciado. A antropologia francesa não foi portanto escolhida pela autora. Ela se escolheu a si própria, se impôs como um objeto incontornável se o objetivo é acertar as contas com a própria formação.
E parece ter sido esse o objetivo da autora. Acertar as contas com um passado mitológico e discutir de modo sério e metódico outras possibilidades de pensar a antropologia que poderiam estar inscritas na obra de Marx. Como se sabe, essas possibilidades foram sumariamente deixadas de lado, na maior parte das vezes com toscos e desinformados argumentos. Prevaleceu o que não poderia nunca predominar na antropologia sem que esta perdesse sua própria razão de ser: o etnocentrismo disciplinar. Se combater esse etnocentrismo disciplinar fosse o único objetivo da autora só ele já valeria a leitura do livro.
(Prefácio ao livro de Maria Cecíllia Manzoli Turatti. Antropologia, Economia e Marxismo – uma visão crítica. São Paulo: Alameda, 2011.)



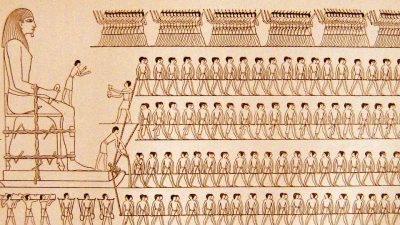

Comentários