Fábio José de Queiroz |
“Lutei e o meu leito de águas claras se fez vermelho” (Ronaldo Bastos).
Em sua obra magna, O capital, Marx evidencia e incrimina o cortejo de violências que acompanha o trâmite do capital pela história. Ambientes fabris tórridos e adoecedores, jornadas de trabalho intermináveis, salários sofríveis, abusos na utilização da mão-de- obra infantil e feminina, acidentes e doenças profissionais, alienação do trabalhador no universo ruidoso da produção burguesa e deformidades próprias à lógica do capital, todos esses elementos somados a outros, e aqui não citados, compõem o imenso catálogo de horrores do modo de produção em que o capital é rei.
Ter uma ideia plenamente precisa da abordagem de Marx – com relação à violência em seu diálogo com o capital – implica começar pelo processo de acumulação primitiva em que este último prepara o salto que o conduz do pré-capitalismo à ordem burguesa moderna. Nessa transição, não há planuras suaves; o relevo é íngreme. As regiões acidentadas se impõem sobre os campos limpos. A violência é a coveira do velho e a parteira do novo.
Ao publicar a violência do capital como algo inerente a este, Marx não pretende exatamente propor a cessação das hostilidades, a ausência de conflitos e a instauração de uma paz duradoura, quando a alma serena, finalmente, se imporá como regra de ouro entre todas as classes. Marx não é uma pacifista. Ele sabe que a luta de classes é o motor da história. Sabe, também, que a violência é parte da história, e que, à maneira de Hegel, esta tem sido o patíbulo da humanidade. A rigor, sabe que (no espírito de Goethe), tudo que vive merece perecer. Por fim, ele conhece bem o fato de que as velhas estruturas sociais acolhem a contragosto qualquer gesto de mudança. Nesse sentido, não há mudança que seja aceita sem contestação, e quando ela é significativa, supõe, efetivamente, não a quietude, mas a agitação das classes em movimento.
Completa-se assim o ciclo no qual a violência é seu senhoril, não tão só para preservar o que existe, mas, do mesmo modo, para sublevá-lo e abrir caminho para instauração do novo. As revoluções são momentos de excepcionalidade nos quais a violência pode ser impulsiva ou moderada, a depender de circunstâncias que não podem ser antevistas, à distância, no tempo. Em O capital, Marx admite as grandes transformações que conduziram à edificação do capitalismo como modo de produção historicamente determinado. Admite, igualmente, que essas transformações não resultaram de processos irrefutavelmente ordeiros. Daí a grande importância que concedeu ao estudo da expropriação dos pequenos produtores, incluindo a violência atinente a todo esse processo de amplos desdobramentos históricos. Não se furtou de examinar como a violência se configurou como parte inseparável do capitalismo, acompanhando e sendo parte de seu desenvolvimento como modo de produção de dimensão mundial. A crítica da violência das expropriações e da exploração cotidiana sobre as pessoas que vivem da venda de sua força de trabalho não deve ser entendida, entretanto, como crítica da violência em geral.
Romper a maldição histórica em que o capital submete o trabalho, e o faz em escala mundial, não oferece ao trabalhador, entendido como classe e não como indivíduo isolado, escolha que não seja a de, com firmeza, lutar contra o domínio que lhe é imposto pelo capitalista, não como pessoa, mas, designadamente, como classe. A ruptura dessa maldição histórica não é possível sem violência. No caso, de violência revolucionária. Em vários momentos de O capital, Marx a sugere, Marx a indica, Marx a proclama.
A ideia da revolução como parteira de uma sociedade velha grávida de uma nova, tanto pode ter validade para explicar a transição do feudalismo para o capitalismo como para anunciar o novo que brota do ventre do velho, o proletariado da sociedade burguesa, a revolução proletária da luta de classes da nova classe dos produtores contra a nova classe dominante, precocemente envelhecida. A revolução proletária é a violência revolucionária em sua forma superior, mas ela se insinua no combate de fábrica, no combate de rua, na greve, na manifestação ruidosa dos assalariados. A cada capítulo do livro de Marx, essa questão serpenteia, dá o ar de sua graça, cobra seu direito à cidadania. Eis a violência revolucionária e seus sentidos, dos mais toscos aos mais refinados, dos mais encobertos aos mais explícitos, dos mais simples aos mais multifacetados.
Cerca de meio milênio nos separa das grandes expropriações que varreram o território da velha Álbion. Pouco mais de duzentos anos nos distanciam do momento das primeiras agitações operárias, trazendo consigo forças e paixões que antes pertenceram à outra classe social, à época, já prematuramente obsoleta e conservadora. Antes, ela gritara com relação ao passado: “ele tem que se destruído, ele tem que ser destruído!” Agora, empastela o presente e torna-o estático, dando-lhe, muito cedo, o rosto de passado. A esse seu presente convertido, previamente, em passado perpétuo, a nova-velha classe dominante dirige um grito oposto ao do antigo clamor: “ele tem que ser mantido, ele tem que ser mantido!”
Deixando de lado seu “implacável vandalismo” do período das expropriações, em como o “impulso das paixões mais infames”, a burguesia, como classe dominante, e não mais como aspirante a esse posto, não cansa de se queixar da violência do proletariado. Esquece facilmente que “o capital nasce escorrendo sangue e lama por todos os poros, da cabeça aos pés”. Agora, pretende estancar o sangue e varrer a lama. Para tanto, condena a violência revolucionária, método com o qual dinamitou o poder da velha nobreza senhorial [1]. O que ela almeja é impedir a transformação da propriedade privada capitalista em propriedade social.
Ocorre que, quando Marx afirma que as revoluções não se fazem por meio da lei, com efeito, ele sugere que elas não constituem um processo protocolar, formal, inodoro; inversamente, implicam no uso da violência como condição para passagem da propriedade capitalista à categoria histórica de propriedade social. Essa transição corresponde a um longo movimento histórico em que a violência revolucionária deve desempenhar papel não menosprezável.
A burguesia, que alcançou o poder mediante uma tormenta revolucionária, execra qualquer possibilidade de uma nova tormenta revolucionária que, historicamente, em lugar de varrer do poder a velha classe a qual ela se opunha, repele e devasta a nova-velha classe dominante: a própria burguesia. Como nenhuma classe na história apresentou comportamento suicida, não será a burguesia que se inclinará à adoção de métodos kamikazes. Ao contrário, por meio de um discurso racional, pregará a necessidade de se respeitar as liberdades individuais, as peremptórias liberdades negativas, bem como outros recursos jurídico-constitucionais que, em última instância, são modos de ratificar a perenidade da propriedade privada capitalista. Em síntese: houve violência, não há mais. É quase como dizer: houve história, não há mais – tal como ironizava Marx aos economistas burgueses e aos seus esforços de eternização da ordem do capital.
A única violência aceitável para o capital é aquela que lhe assegure uma contínua valorização. Acontece que a valorização do capital é a exploração do trabalhador. Uma coisa não existe sem a outra. Ao lado dessa violência contínua, e, por conseguinte, cotidiana, eventualmente, o capital não se furta, não apenas de usar proteção militar privada, mas conclama o Estado a garantir a ordem, que não é outra senão a do sistema social em que a valorização do capital é norma e seu poder é plenipotenciário. É a violência extraeconômica a serviço daquele que tem plenos poderes.
Quando a classe trabalhadora se levanta contra esse estado de coisas, cidades são destruídas e incendiadas, da mesma maneira que os vilarejos em que moravam aqueles que foram expropriados nos alvores do capital. Os que vão expropriar hoje vingam os expropriados de ontem. Os trabalhadores assalariados, sem que o saibam, prestam solidariedade aos lavradores desapossados pelo capitalismo nascente. Sob este ponto de vista, vingam as pilhagens, horrores e opressão que padeceram os camponeses que sofreram as expropriações que vão se suceder “do último terço do século XV até o fim do século XVIII” (MARX, 2013, p. 799).
Antes, tratava-se de “liberar” a população rural para a indústria, proletarizá-la. No capitalismo, trata-se de desencarcerar a população industrial, e mediante sua emancipação, emancipar a humanidade. Os meios violentos de ontem reaparecem debaixo do clamor de uma nova classe social que, para Marx, não pode libertar a si mesma sem fazer algo equivalente com relação à humanidade.
Para que não sejam violentamente abandonados pelos senhores do capital, não resta ao operariado outra opção a não ser combater seus amos com as armas que estes usaram para confrontar os amos de corte feudal. Se, como assinala Marx (2013), o “prelúdio da revolução que criou as bases do modo de produção capitalista ocorreu no último terço do século XV e nas primeiras décadas do XVI” (p. 789), não seria exagero pontuar que as bases do novo modo de produção têm ocorrido desde o século XIX e, ainda hoje, se estendem e se revigoram. Esse novo modo de produção não nascerá com uma bandeira branca na mão. Ele nascerá “com traços de sangue e fogo”, do mesmo modo que vieram ao mundo todos esses modos de produção que figuram nos museus de história, cumprindo papel semelhante ao que começa a desempenhar os telefones de fio.
A virtude da história é a de não prescindir de nenhum método, por mais inodoro e violento que ele pareça ser. Se isso é certo, o destino do capital não pode está separado da violência, seja aquela que o absolve, seja aquela que o pune. A violência revolucionária é aquela que o pune. É aquela que nasce da pressão das massas. É a única que pode emancipá-las da violência do capital.
Atestam-se, finalmente, as características de que se reveste esse processo, conforme a abordagem de Marx. Para ele, com a vitória dos trabalhadores (1) “O entrave é arrebentado”. (2) tem-se a “negação da negação” da produção capitalista. (3) desse modo, “soa a hora da propriedade capitalista”. Com isso, (4) o proletariado triunfa estrategicamente: “os expropriadores são expropriados” (MARX, 2013, p. 832). Uma vez mais, a sociedade velha grávida de uma nova se vê diante de uma nova parteira: a classe operária. O que há de novo e cativante é que “Quem será expropriado, agora, não é mais o trabalhador que trabalha para si próprio, mas o capitalista que explora muitos trabalhadores” (idem, p. 832).
Nota:
[1] Sobre as questões tratadas neste parágrafo, confira o capítulo “Acumulação primitiva de capital e violência”.
Referência:
MARX, K. O capital, livro I, São Paulo: Boitempo, 2013.



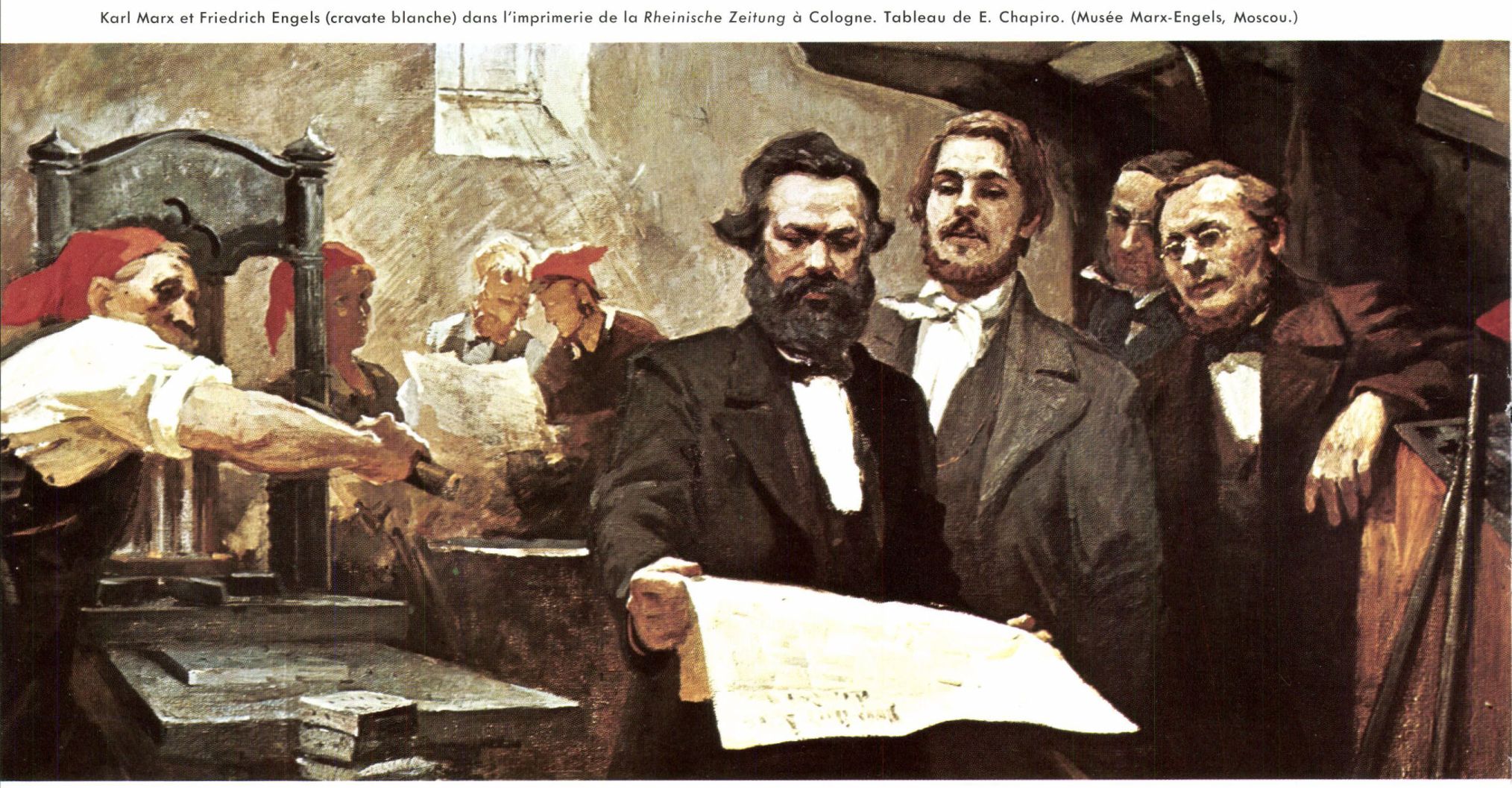






Comentários