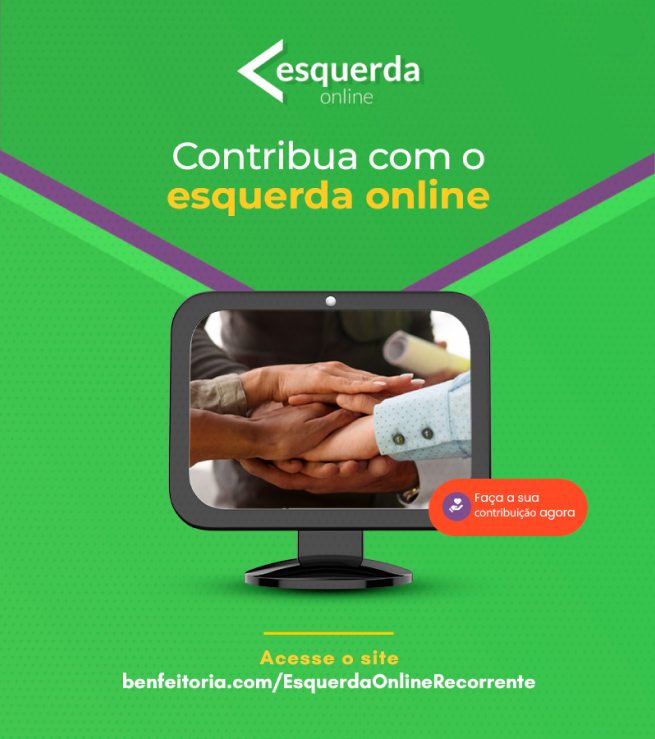A Era do Neofascismo: Um Desafio Global
Publicado em: 5 de outubro de 2025
“ A única generalização cem por cento segura sobre a História é aquela que diz que enquanto houver raça humana haverá História”
(Eric Hobsbawm, Era dos Extremos)
Em “A Era das Revoluções” Eric Hobsbawm [1] afirma que nos momentos de mudanças históricas “as palavras são testemunhas que muitas vezes falam mais alto que os documentos”. Algoritmo, fake news, neofascismo, uberização, plataformas digitais, guerra híbrida, emergência climática, streaming, nuvem ou cloud, cancelamento, home office, start up, selfie, hater, cringe, troll … A lista é bem extensa. Se parte dessas palavras, que não por acaso são em maioria de origem da língua inglesa, já existem há algum tempo, é verdade que não faz mais de 15 anos que se tornaram indispensáveis em nosso dia a dia.
Partindo dessa provocação, queremos defender a ideia de que os anos de 2015/2016, com o BREXIT e a primeira eleição de Donald Trump, são um marco histórico de inauguração de uma nova era. Em primeiro lugar, é importante afirmar que o presente ensaio não tem como objetivo se aprofundar nos diversos métodos e conceitos de marcação histórica que diferentes tradições da esquerda historicamente se utilizaram, a escolha do termo “era” nos pareceu adequada por ser mais aberto, significando que estamos diante de um momento histórico, que contém certa coesão e que é caracterizado por uma lógica interna dominante.
Dessa forma, queremos defender duas teses centrais:
- O neofascismo não é apenas uma onda passageira, mas se apresenta como uma estratégia, nova, diferente e viável de dominação para o Capital. Buscando hegemonia econômica, política e cultural, ele se manifesta como uma força que organiza partidos, movimentos de massa, programa coerente e propaganda ideológica. Dessa forma, consolida-se como um fenômeno político sólido e duradouro que não pode desaparecer sem ser derrotado estrategicamente.
- O ressurgimento do fascismo ocorre em um mundo profundamente transformado também em sua dimensão política, cultural, econômica e social, em relação às décadas subsequentes ao colapso da URSS e o fim do século XX.
A Miséria da Democracia: 25 Anos de Interlúdio histórico (1991-2016)
Na noite de 25 de dezembro de 1991, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi baixada do topo do Kremlin pela última vez. A cena histórica não marcou apenas o colapso da URSS mas, como bem observou Hobsbawm, baixavam-se ali também as cortinas do breve século XX, um século marcado por guerras, revoluções e contrarrevoluções.
O mundo que amanheceu no dia 26 de dezembro seria tomado por previsões de futuro com traços definitivos: o fim da história, o fim da luta de classes, a vitória irrevogável da democracia liberal sobre o fascismo e as experiências socialistas. De alguma forma, todo o espectro político, da esquerda à direita, foi seduzido por essa ideia. O mundo testemunharia o que seria uma nova era na qual a democracia liberal parecia despontar como horizonte definitivo da humanidade.
Entretanto, o período que se seguiu não consolidou tais promessas. Entre 1991 e 2016 vivenciamos um interlúdio histórico, situado entre o término do século XX e o início efetivo do século XXI, onde tanto o imperialismo quanto os movimentos sociais não foram capazes de oferecer respostas duradouras aos dilemas de seu tempo. O que predominou foi uma crescente desdemocratização dos regimes políticos, acelerada pela crise econômica de 2008 e coroada pela ascensão de forças autoritárias no cenário global.
Floresceram neste período histórico iniciativas políticas e sociais que buscavam alargar as fronteiras da democracia. O Fórum Social Mundial, criado em Porto Alegre em 2001, organizou-se como contraponto ao Fórum Econômico de Davos e foi o epicentro de reflexões críticas sobre a globalização neoliberal. Paralelamente, a chamada “Onda Rosa” na América Latina levou ao poder governos progressistas que propunham novos pactos sociais baseados na redistribuição de renda, participação popular e soberania nacional.
A Primavera Árabe, o movimento Occupy Wall Street, a Geração à Rasca em Portugal, os Indignados na Espanha, bem como os protestos de Junho de 2013 no Brasil, expressaram o desejo das massas por justiça social, direitos e maior participação política. Esses foram apenas alguns dos episódios que revelaram a existência de um potencial real de transformação. Essas titânicas rebeliões populares que eclodiram por todo o globo terrestre na década passada foram, evidentemente, muito diferentes entre si, embora possuam elementos em comum. Parte dessas semelhanças eram os seus limites programáticos estratégicos, mas também metodológicos como o horizontalismo, a anti-representatividade, a obrigatoriedade por decisões por consenso; estes elementos são parte, mas certamente não o todo, das razões pelas quais esses grandes levantes pouco conquistaram. [2]
Perante esses movimentos reivindicatórios, a promessa da democracia liberal universal revelou-se incapaz de enfrentar de maneira efetiva as desigualdades estruturais que atravessam as sociedades. O racismo permaneceu estruturante das relações sociais — basta lembrar o recrudescimento da violência policial contra populações negras e o encarceramento em massa nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O machismo e a violência de gênero também se mantiveram alarmantes: em 2015, por exemplo, a ONU estimava que uma em cada três mulheres no mundo já havia sofrido algum tipo de violência física ou sexual. A lgbtfobia, por sua vez, continuou ceifando vidas — o Brasil ocupa triste liderança nos índices de assassinatos de pessoas LGBTQIA+ no mundo. A xenofobia ganhou força especialmente no contexto das maiores crises migratórias desde o pós 2° guerra mundial, quando refugiados da África e do Oriente Médio passaram a ser vistos como ameaça em países europeus. Esses dados evidenciam que a democracia liberal não foi capaz de cumprir a promessa de uma cidadania plena e universal.
O Imperialismo por sua vez, como de costume, buscou contornar os seus problemas por meio da violência, usando da força (militar e econômica) para a imposição de seus interesses estratégicos. A “Guerra ao Terror”, declarada após os atentados de 11 de setembro de 2001, legitimou a invasão do Afeganistão e do Iraque, arrastando o mundo para um ciclo interminável de guerras por procuração e instabilidade no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, sanções econômicas, bem como golpes de Estado — explícitos ou disfarçados — minaram experiências progressistas em várias regiões do planeta, à exemplo do que vivemos no Paraguai (2012) e aqui no Brasil (2016). Já a crise financeira de 2008 escancarou a vulnerabilidade do neoliberalismo e, ao invés de abrir espaço para reformas democráticas, serviu de justificativa para políticas de austeridade que aprofundaram desigualdades e corroeram a legitimidade de partidos, instituições e do sistema político.
Na virada do milênio a internet pareceu oferecer, por um momento, um novo espaço para a democratização da informação e a ampliação da cidadania. No entanto, paulatinamente essa hipótese foi se demonstrando uma amarga ilusão, e essa tecnologia que foi desenvolvida pelos militares americanos com o capital privado do Vale do Silício revelou sua verdadeira face ao mundo todo [3]. As chamadas big techs — Google, Meta (Facebook, Instagram), Amazon, Apple, Microsoft — transformaram-se em gigantes com poder concentrado não apenas sobre fluxos financeiros, mas também sobre a circulação de informações e a formação da opinião pública. A promessa de uma rede livre e horizontal deu lugar a um espaço controlado por algoritmos que amplificam discursos de ódio, manipulam eleições e reforçam desigualdades. Em vez de instrumento de emancipação, a internet tornou-se mais um pilar do capitalismo contemporâneo.
A promessa de universalização da democracia liberal revelou-se falaciosa diante da desigualdade crescente entre países centrais e periféricos, da resiliência do colonialismo, da persistência de opressões históricas e da captura das ferramentas de comunicação pelas grandes corporações. Da mesma forma, a potência das mobilizações populares não se traduziu em conquistas estruturais capazes de conter a ofensiva neoliberal. A crise de 2008 marcou uma virada decisiva: o descrédito das soluções tradicionais abriu caminho para a emergência de alternativas autoritárias e, em alguns casos, abertamente fascistas. Na virada de 2015/2016 o BREXIT, ao simbolizar o fechamento nacionalista da Europa, e a eleição de Donald Trump, ao explicitar a força de movimentos autoritários e supremacistas nos EUA, marcaram o que consideramos o fim do interlúdio iniciado em 1991. A crise de representação, alimentada pela austeridade e pela desigualdade, abriu espaço para alternativas políticas que no lugar da contestação dos limites do neoliberalismo, questionam abertamente a própria ideia de democracia.
Entre 1991 e 2016, portanto, vivenciamos a derrota do “tempo da promessa”. Assistimos à miséria da democracia e o esgotamento das ilusões de que a globalização neoliberal traria prosperidade compartilhada entre norte e sul global, ou que as lutas fragmentadas seriam suficientes para conter a ofensiva do capital. O século XXI nasce, assim, em um mundo tecnologicamente hiperconectado, mas economicamente em crise; socialmente desestabilizado, ambientalmente ameaçado e politicamente polarizado. O interlúdio histórico terminou, e com ele ficaram as esperanças não cumpridas de uma democracia liberal incapaz de universalizar direitos e construir justiça social.
Nada Será Como Antes: A Década que Deu Início ao Novo Século
Os anos de 2015/2016 representam uma inflexão histórica qualitativa. De um lado, assistimos ao esgotamento do ciclo anterior, caracterizado pela promessa fracassada da democracia liberal como valor universal e do neoliberalismo como paradigma hegemônico de organização da economia e da política. A democracia liberal enquanto última fronteira da humanidade, ideologia intensamente difundida após a queda do Muro de Berlim e o colapso soviético, revelou-se incapaz de superar contradições estruturais como racismo, xenofobia, misoginia, colonialismo e desigualdade entre norte e sul global. De outro lado, emergem forças políticas que canalizam o ressentimento social e a crise de legitimidade das instituições liberais para soluções autoritárias, fundadas no apelo à violência, ao nacionalismo excludente, à desregulamentação radical e ao negacionismo histórico e científico. A vitória do Brexit no Reino Unido e a primeira eleição de Donald Trump nos Estados Unidos são marcos simbólicos da inauguração desse novo tempo, no qual o autoritarismo, travestido de solução política, recoloca um fascismo atualizado como força de massas no século XXI.
Esse novo ciclo não pode ser entendido apenas em termos político-institucionais. Ele está diretamente vinculado à transformação radical da esfera pública promovida pela revolução digital. O uso da internet como arena política adquiriu um caráter qualitativamente distinto na última década: a nova direita reorganizou a relação entre comunicação e poder ao explorar com inédita eficiência as redes sociais como espaços de mobilização e conformação de subjetividades. A lógica algorítmica das big techs, orientada pelo lucro, encontrou na mobilização de afetos negativos uma fonte privilegiada de engajamento e monetização. A partir daí, há uma mutação na própria forma de se fazer política, na qual a comunicação tradicional cede espaço aos fluxos digitais virais capazes de manipular a opinião pública, destruir reputações, mobilizar multidões e, em muitos casos, comprometer a integridade de processos eleitorais, desestabilizando governos e regimes, sejam estes últimos democráticos ou não.
A hiper digitalização da vida constitui o pano de fundo desse processo. Segundo a pesquisa Consumer Pulse [4], o brasileiro passa, em média, mais de 9 horas por dia conectado à internet, sendo mais de 3 horas dedicadas às redes sociais. Esse dado expressa não apenas uma mudança de hábitos, mas a fluidez da fronteira entre o “real” e o “virtual”. O digital tornou-se um espaço privilegiado da produção de sociabilidade, trabalho, lazer, informação e também da militância. A consequência política dessa transformação é dialética: por um lado, amplia-se a capacidade de mobilização e conexão global; por outro, concentra-se poder econômico e político nas mãos das corporações que controlam os fluxos de dados. Não por acaso, muitos pesquisadores têm discutido sobre o que caracterizam como colonialismo de dados [5], ou seja: a apropriação massiva de informações pessoais e coletivas por big techs situadas majoritariamente no norte global, que, além de explorar esses dados como capital, concentram em seus data centers recursos energéticos equivalentes ao consumo de cidades inteiras.
Esse novo momento histórico é atravessado, ainda, pela crise climática. A imagem distante de ursos polares se equilibrando sobre icebergs em degelo cedeu lugar à experiência cotidiana de eventos extremos que atingem centenas de milhões de pessoas em todas as regiões do planeta. O IPCC (ONU) tem reiterado, ano após ano, o fracasso dos planos de mitigação do aquecimento global, mas os governos — tanto no norte quanto no sul — permanecem presos à cartilha neoliberal que fragiliza as infraestruturas públicas de proteção e expõe populações inteiras a catástrofes recorrentes. A enchente que deixou um terço de Porto Alegre submersa em 2024 ilustra a convergência entre crise ambiental e vulnerabilidade social, ambas amplificadas pela lógica predatória da acumulação capitalista.
No contexto histórico da última década, a pandemia de Covid-19, responsável por cerca de 15 milhões de mortes no mundo, foi um trauma mundial que também intensificou uma percepção de colapso sistêmico. Ela expôs, de forma dramática, a vulnerabilidade das cadeias globais de produção, a fragilidade dos sistemas de saúde (sabotados pelo neoliberalismo) e os limites na capacidade de coordenação das instituições multilaterais. Ao mesmo tempo, revelou a natureza predatória do capitalismo no seu estágio contemporâneo, cuja destruição ambiental cria condições para surgimento de novas zoonoses (vírus, bactérias, fungos e parasitas) e cuja financeirização dos sistemas de saúde compromete respostas eficazes a emergências globais.
Sobre as placas tectônicas dessa realidade desloca-se também a crise geopolítica do sistema-mundo. O declínio relativo da hegemonia estadunidense, a ascensão da China como potência global e o esgotamento da arquitetura institucional do pós-guerra — ONU, OMS, OMC, FMI, OTAN — compõem um quadro de impasse estratégico para o imperialismo. Sua consequência é o acirramento das disputas geoestratégicas, desestabilização de regiões inteiras e aceleração das lutas por recursos, mercados e rotas comerciais e militares. É flagrante nos últimos anos a retomada de duas corridas que estão conectadas entre si: a corrida armamentista (com várias nações ampliando qualitativamente seus orçamentos militares) e a corrida tecnológica, com investimentos bilionários para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Mais uma vez, EUA e China são protagonistas dessa já batizada“Guerra fria 2.0”.
É nesse tempo histórico que o neofascismo se insere como resposta política. Não se trata apenas de “lideranças populistas” ou de partidos isolados, mas de uma cultura política totalitária que atualiza, para o século XXI, as características do fascismo clássico: autoritarismo, intolerância, racismo, misoginia, nacionalismo extremo, culto à personalidade e violência política; articulando todas elas às condições do mundo contemporâneo: neoliberalismo radical, hiper digitalização da vida, precarização estrutural do trabalho e crise ambiental. Trata-se de uma resposta sistêmica à crise do capitalismo, que oferece ao grande capital uma estratégia para prolongar sua dominação, articulando liberalismo econômico radical com autoritarismo social e político. O neofascismo não pode, portanto, ser lido como uma aberração transitória, mas como um projeto de poder com alcance mundial e capacidade de moldar a vida social em todas as suas dimensões. O neofacismo não está somente presente na cena política e nos parlamentos de todo o mundo, mas está entranhado nas mais diversas esferas das sociedade. Opera resolutamente no Poder Judiciário, na cultura, nos locais de trabalho, nas periferias, nas redes sociais, nas igrejas, enfim, opera com nítido interesse de construir hegemonia social. Nenhum fenômeno enraizado assim pode ser derrotado de forma efêmera. Se havia alguma dúvida sobre isso, o segundo governo de Trump a dirimiu por completo.
Em resumo, o ciclo histórico inaugurado em 2015/2016 combina, ao mesmo tempo, o esgotamento do modelo anterior e a emergência de um novo momento, caracterizado pela centralidade do digital, pela crise ambiental e geopolítica, pelo mal-estar advindo da sensação de colapso sistêmico, e pela ascensão do neofascismo como força social e política. Reconhecer essa complexidade é condição indispensável para a construção de alternativas políticas, capazes de articular resistências e um horizonte estratégico frente a um mundo em crise. A Era do Neofascismo, título provocativo deste ensaio, é um alerta para a dimensão histórica dos riscos que estão colocados à humanidade caso eles (os neofascistas) prevaleçam sobre nós.
Século XXI: Uma Nova Odisseia – Esse não é um convite à melancolia.
Todo momento histórico contém uma missão. Cabe a cada geração de lutadores identificá-la e atuar em sua defesa de forma decidida, consciente e abnegada. Coube a nós viver em nossa passagem pela história uma catálise negativa, com o surgimento de uma monstruosidade política internacional e com alcance de massas.
Compreender qual a dimensão da força do inimigo ao qual devemos enfrentar, no entanto, não pode ser confundido com um convite à resignação. Ao contrário: o momento mais dramático do século XX, inaugurado com a I guerra mundial em 1914, foi concluído 31 anos depois com a marcha do Exército Vermelho sobre Roma e Berlim e a derrota definitiva e histórica das forças nazifascistas europeias, em uma das mais espetaculares vitórias da classe trabalhadora em toda a história humana.
A caracterização rigorosa de quem é o inimigo e de qual é o seu projeto condiciona a possibilidade de vitória. A catástrofe que ameaça o planeta não é a de um fim do mundo cinematográfico, súbito e redentor, mas sim da reorganização do mundo sob as bases programáticas do neofacismo, uma atualização sinistra da forma atual de dominação do capital. Não é o mundo dos bilionários que está sob risco, mas sim as condições de vida de nossa classe. Não estamos diante do risco da extinção igualitária de toda a humanidade, mas sim do extermínio de milhões de membros da classe trabalhadora, dos povos racializados e subalternizados do mundo.
Por isso, é importante definir que o combate ao neofacismo é o elemento político que deve estar no topo da cadeia hierárquica de nossa estratégia até a sua derrota. Não temos mais tempo para tergiversações: nossa política, as alianças que realizamos, as batalhas nas quais nos engajamos e aquelas que decidimos evitar, nossas críticas e nossas exigências devem sempre estar subordinadas à derrota do inimigo fascista. Isso porque essa batalha condiciona o futuro das nossas organizações, dos movimentos sociais e, na verdade, da nossa classe como um todo.
Mas aqui é importante um registro, hierarquia é uma categoria de subordinação, não uma medida de tempo. Por ser nossa tarefa hierárquica, não quer dizer que ela seja exclusiva para toda uma era, ao contrário. Aqui não se advoga pela posição de que agora devemos combater o neofacismo para depois, em um futuro incerto, construirmos a nossa utopia, a nossa alternativa de futuro, a luta pelo socialismo, ao contrário. Nossa alternativa de sociedade se constrói de forma simultânea e intrínseca à luta contra o domínio neofascista mundial. Somente ferramentas políticas que mobilizem sonhos, utopias, que apresentem um projeto totalizante de superação positiva do mundo sobre o qual e pelo qual lutamos reunirão forças capazes de impor uma derrota ao projeto totalitário da extrema direita.
A construção desse projeto revolucionário para o século XXI exige, antes de tudo, uma especial habilidade dialética. Trata-se de aprender com as experiências históricas sem cair no saudosismo nostálgico ou no dogmatismo paralisante, reconhecendo tanto os êxitos quanto as insuficiências e erros do passado. Essa postura crítica não se confunde com a idéia arrogante de uma esquerda sem passado, que despreza sua própria história, mas sim assume que cada geração se apoia sobre as conquistas e derrotas anteriores para avançar sob novas condições históricas. O desafio é articular memória e crítica de modo a forjar caminhos atualizados que respondam às urgências do nosso tempo.
Esse exercício dialético implica também olhar para o presente, acolhendo e aprendendo com a diversidade das lutas em curso e a pluralidade de sujeitos e bandeiras que compõem a cena política contemporânea. Só assim será possível construir um consenso programático capaz de superar a fragmentação e impulsionar a integração em torno de um horizonte comum. Tal projeto precisa dialogar profundamente com a classe trabalhadora do nosso tempo: mais feminina, negra, periférica, LGBTQI+, com maior escolaridade e acesso à informação do que jamais sonhou a geração anterior, mas também submetida à precarização, à plataformização e à perda de direitos sociais. Reconhecer essa realidade é condição para que o projeto revolucionário se torne vivo, enraizado e apaixonante, capaz de transformar o sofrimento em potência e pulsão de vida, e com isso reafirmar o gigantismo social de uma classe que ainda sonha e resiste.
Como já dissemos, o ciclo histórico inaugurado a partir de 2015/2016 tem como marca a profunda crise da democracia liberal, consequência direta do esgotamento do neoliberalismo como paradigma de organização da economia, da política e das relações sociais. Sob os escombros dessa crise, abriu-se espaço para a ascensão de projetos autoritários e para a reorganização do neofascismo, que passou a arregimentar movimentos de massas em torno de um discurso de ódio, ressentimento e reação, confrontando tanto a democracia liberal quanto a própria ideia de democracia.
Diante desse cenário, a esquerda do século XXI precisa reencontrar o equilíbrio entre o imediato e o estratégico. De um lado, é preciso rejeitar o possibilismo inerte, cuja fé quase canônica nas instituições da democracia liberal só nos arrastaria ao naufrágio junto com elas. De outro, torna-se igualmente necessário renunciar ao ultimatismo sectário que, preso a dogmas e incapaz de navegar nas contradições concretas, condena-se à irrelevância política. O caminho a ser trilhado passa por uma postura dialética, que combine ação tática e horizonte estratégico, construindo uma alternativa revolucionária enraizada no presente e capaz de apontar para o futuro.
Por fim, o enfrentamento ao neofascismo exige um combate em todas as frentes. Embora a disputa institucional seja relevante, ela está longe de ser suficiente. Trata-se de uma luta que atravessa a totalidade da vida social: a educação, a ciência, a filosofia, a música, as artes, a história, a religião e os modos de vida estão todos sob disputa em uma verdadeira guerra cultural cujo resultado definirá em qual mundo viverá a próxima geração. Um projeto político emancipatório precisa ser igualmente totalizante: diverso nos sujeitos que o compõem, integrado em sua agenda programática e capaz de mobilizar as energias sociais necessárias para derrotar o avanço autoritário e abrir caminho para a superação do capitalismo.
Notas:
[1] Eric Hobsbawm (1917-2012) foi um historiador marxista britânico. Sua longa e aclamada produção historiográfica o situam entre os intelectuais academicamente mais relevantes do século XX. Entre suas principais obras estão a trilogia A Era das Revoluções (1962) , Era do Capital (1975) e A Era dos Impérios (1987), que mais tarde seria complementada pelo livro Era dos extremos – O breve século XX (1994)
[2] Para um relato jornalístico interessante de parte desses processos ver A década da revolução perdida de Vincent Bevins.
[3] Ver Máquina do caos de Max Fisher.
[4] https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/mais-de-9h-online-por-dia-hiperconexao-preocupa-brasileiros-diz-estudo/
[5] Ver Colonialismo de dados: Como opera a trincheira algorítmica na Guerra Neoliberal; Colonialismo Digital: por uma crítica Hacker-fanoniana
Top 5 da semana

movimento
Não “acorregeia” senão “apioreia”
meio-ambiente
Tapajós em Chamas: O Decreto 12.600 e a Resistência Indígena contra o Império da Soja
mundo
NO KINGS GLOBAL: A chave para interromper os absurdos de Trump!
cultura
Comunidade da Gamboa de Baixo mantém tradição de oferendas a Iemanjá há 47 anos
movimento