Esse texto é uma denúncia de uma estrutura violenta. Poderia escrever com citações da legislação ou mencionar intelectuais que são referências sobre direitos humanos. Poderia também ficar no meu quarto chorando de tristeza, mas não quero fazer isso agora. Preciso escrever um pouco sobre acontecimentos recentes, os meus sentimentos e a história.
Na pandemia vivemos assim, ora tristes, ora felizes. Cada notícia de morte por Covid-19, cada assassinado de adolescentes, os índices crescentes de desemprego, a violência policial, a máscara sendo retirada de crianças, a corrupção na compra das vacinas, o aumento pobreza, da fome e da insegurança alimentar. Tudo isso contrasta com a felicidade efêmera promovida por lives de artistas, textos de pessoas inspiradoras, filmes, poesias, piadas ou músicas para nos ajudar a enfrentar a barra do cotidiano, diante da tristeza e das estratégias de distanciamento para prevenir o contágio pelo vírus.
Pra muita gente ficar em casa não é opção. Pra muita gente ter casa não é opção. Pra muita gente, nem ser gente é considerada opção. Para outros segmentos o que ajudou e tem ajudado a passar por esse momento tão complexo e difícil em nossa história é poder ler, se alimentar, se exercitar, ouvir os psicólogos em redes sociais (já que muitos não podem fazer terapia) e ter um pouquinho de lazer, mesmo dentro de casa. Um misto de sentimentos contraditórios por vezes nos invade, mas “é melhor ser alegre que ser triste”. Não sabemos, não temos condições ou não queremos acessar os escaninhos da nossa alma. Afinal, pra que mexer em situações traumáticas, em dores e experiências de violência se a realidade é péssima, dura e cruel?
Só que algumas coisas acontecem e a minha alegria genuína, nesse momento, cede lugar à frustração ao ódio (de classe). Hoje de manhã, mês da consciência negra, fiz uma palestra sobre as três décadas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os desafios para a proteção integral. Estava ansioso e muito feliz. Feliz pelo reconhecimento do engajamento na militância e de todos os esforços intelectuais em vinte anos como assistente social. Feliz pela confiança depositada e estar com um Conselho profissional que luta do lado certo da história. Compor uma mesa desse Seminário, do ponto de vista profissional, foi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória. Estou grato e compartilhar o conhecimento, ao lado das companheiras e companheiros do conjunto CFESS-CRESS, foi uma grande honra. Chorei de emoção com a apresentação de Dácia Teles, pois ela, tão importante em minha trajetória como estudante, falou que “nós somos sobreviventes”. Sim, somos sobreviventes!
Um dos motivos que me impulsionaram a fazer Serviço Social na UFRJ, em 1994, foi buscar um curso que me formasse e não apenas me oferecesse um diploma ou uma profissão. Uma profissão que, em linhas gerais, me ajudasse a romper com a alienação e me proporcionasse trabalhar em políticas para garantir os direitos e a vida de outras pessoas como eu. Sou um sobrevivente, pois ser jovem no subúrbio e conseguir concluir um curso superior, numa das grandes universidades públicas brasileiras, é algo difícil e me orgulho disso. Quando o seminário acabou, com a mesa dos movimentos sociais, e ouvi a querida Kelly Melatti encerrar o evento, a tensão deu lugar ao relaxamento. Almocei e, depois, dormi com a sensação de dever cumprido.
Quando acordei, no fim de tarde, fui surpreendido com a leitura de um editorial da Folha de São Paulo, sobre a cantora Marília Mendonça, que realça a covardia patriarcal e machista tão presente nas instituições. Certamente já cantarolei uma música dela, embora não saiba precisar corretamente quais são os seus sucessos. A cantora merece respeito e nas contradições dos sentimentos desses tempos pandêmicos, ela fará muita falta, pois, além de entretenimento, trazia alegria cantando “sofrência”.
E, logo em seguida, recebi no grupo de whatsapp – “Vidas Negras Importam” – um vídeo que mostra uma mulher negra e franzina sendo imobilizada e cruelmente espancada, junto com duas crianças (uma pequena e outra de colo), por dois policiais militares de Itabira-MG. Não importa o que ela fez, aquilo não pode acontecer. O vídeo mostra a violência e um público impotente tentando, ao menos, protegê-las. As cenas nos indignam e nos chocam. Essa é a violência que muitos sofrem e não temos registro em nosso cotidiano. Uma manifestação de poder, de brutalidade e de covardia desse Estado burguês letal e eugênico (que produz veículos de comunicação e profissionais tão covardes, racistas e machistas quanto os policiais que agiram contra aquela família).
Então aquela felicidade da manhã, uma alegria tão bonita e efêmera, deu lugar ao desânimo e à frustração. Já chorei e estou, ao mesmo tempo, sentindo raiva e impotência. Como isso ainda acontece em nosso país? Pior é que acontece muito. Acontece com os indígenas, com segmentos que trabalham no campo, com a população de rua, o subúrbio, a periferia, a baixada e todas as quebradas. Dados do Unicef mostram que a cada hora uma pessoa entre 10 e 19 anos de idade é assassinada no Brasil e quase todos são meninos negros e moradores de favelas (olhem para o que acontece nesse momento na Maré).
E qual o gatilho foi acionado? O que me levou, novamente, a fazer a correlação entre felicidade, frustração e ódio (de classe)
Quando eu era criança, morador de Anchieta no subúrbio do Rio de Janeiro, três ameaças nos rondavam quando íamos às ruas: 1) O “opalão preto”; 2) a “carrocinha do Juizado” e 3) quando algum adulto falava da tal “polícia mineira” (que eu não sabia o que era, mas tinha medo). Fui crescendo e com tempo ir às ruas parecia uma aventura mais difícil, como passar numa fase de um jogo de vídeo game. Mas a nossa realidade envolvia a vida e a morte, pois diante de três “instituições” que nos ameaçavam, ainda tínhamos que lidar com medo das turmas de bate bola no carnaval, com as brigas de grupos de pichadores, com as torcidas organizadas indo para o Maracanã no trem do ramal Japeri e enfrentar o “corredor” junto das galeras nos bailes funk. Era uma sociabilidade juvenil fragmentada pela violência. O opala saiu de moda com os novos modelos de carro. O “Juizado de Menores” passou a se chamar Juizado da Infância e da Juventude (e pelo menos na letra da lei as crianças passaram a ser tratadas como dignidade e respeito). A polícia mineira parece que não mudou! Ela tenta ganhar um novo status, como se fosse partido de direita que sempre foi corrupto, mas apresenta uma nova roupagem. A polícia mineira foi renomeada para “milícia” (e milícia é coisa nossa). O medo nas relações das ruas pode render alguns risos, mas o medo da milícia e/ou da polícia mineira ainda é o mesmo.
Na adolescência, com um pouco mais de entendimento das coisas, fui surpreendido por uma violência desproporcional. Num dia de greve geral, em março de 1989 (ou em 1990), tomei uma coça da PM que jamais esquecerei. Fomos jogar bola na Escola Municipal Paraíba. Era um grupo de aproximadamente 25 garotos. Uns andavam mais a frente e outros mais atrás. Quem conhece o bairro e a Av. Marechal Alencastro sabe que da ponte até a referida escola não se caminha mais do que 2 km e tudo aconteceu nesse trajeto. O que aconteceu? Um dos garotos – que até hoje eu não sei quem foi (ou até sei, mas a minha memória não me permite delatar) – jogou uma pedra num ônibus da CTC que carregava inúmeros policiais a paisana. O danado, super mirolha, devia ser bom de bola de gude, quebrou o vidro e acertou a cabeça de um desses policiais. Continuamos a andar e não olhamos para trás. Eles voltaram com o ônibus, na espreita. E nós, bobos, não vimos e nem sabíamos dessa pedrada. Enquanto estávamos dividindo as equipes (na hora do par ou ímpar) e aquecendo na quadra esportiva da escola para aproveitar aquele dia da semana sem aula, ouvimos um forte estrondo de tiro e vimos vários homens pulando o muro de maneira ordenada e seguindo com ódio na cara pra cima da gente (o tiro matou o cachorro do “caseiro/zelador” que morava no quintal da escola).
Eles nos bateram como nós nunca havíamos sentido. Um ódio que não presenciamos nem nas piores coças dos nossos pais e mães. Tapa na cara foi a violência mais leve. Pisaram em nossas cabeças. Apertaram o nosso pescoço. Esmurraram as nossas costas. Acho que não queriam nos fazer sangrar. Parecia uma técnica de fazer doer e sofrer sem deixar marcas muito evidentes. Depois gozaram com a violência desmedida e cruel. Juntaram-nos num canto para um interrogatório. Uns meninos estavam em estado de choque. Tinha os que choravam e outros que, cheios de hematomas, tremiam de medo e de vergonha por estarem, literalmente, mijados ou borrados nas calças. O zumbido do meu ouvido não cessava. Todos nós perplexos e sem entender o que estava acontecendo (tipo aquela frase de mãe: “você não sabe por que está apanhando, mas eu sei por que estou batendo).
Aquela felicidade infantil, de jogar bola com os colegas de manhã, deu lugar à frustração. Os policiais nos ameaçavam, faziam tortura psicológica e promessa de violência sexual (“vocês vão virar mulher na cadeia e depois vão virar viadinhos e homem de novo”). Queriam que a gente entregasse o “moleque que jogou a pedra”. Um bigodudo fardado, o único fardado por sinal, presenciou o nosso desespero e a nossa inocência. Quando fomos correndo até a ele denunciar aquela violência e gritamos: “senhor, senhor nós fomos agredidos por esses homens, por favor, nos ajude, chame a Polícia”. Eu era um dos que achava que com a chegada dele a justiça seria restabelecida. Um dos caras mais covardes, inclusive era um dos havia me batido, riu e falou: “seus otários, nós somos a polícia!”. Naquele momento meu mundo caiu. A frustração e o medo deram lugar a um ódio enorme. Era um ódio de cada um daqueles homens. Hoje eu entendo o motivo do sentimento em relação à Instituição Polícia Militar, mas nem com meus anos de análise consegui superar esse episódio e outros (tenho bastante azar com a PM).
Depois daqueles minutos desesperadores, nos colocaram no “coletivo” e nos levaram para a rua onde morávamos. Minha perna não parava de tremer. Lembro do cano do revolver perto do nosso rosto e as piadinhas do tipo: “se piscar morre” (tenho amigo que, até hoje, quando vê a polícia não pisca). Quando entramos no ônibus deu até um pouco de pena do policial com a cabeça quebrada e a camisa ensanguentada. “Nossa sorte” é que existia entre nós um menino branco e filho de um oficial da Aeronáutica. Os policiais foram até o pai dele para conversar. E nós, filhos da plebe, ficamos sobre os cuidados dos “carcereiros” com a cara malvada. Logicamente, o ódio da instituição se personifica nas pessoas, ainda mais para adolescentes sem tanta maturidade para distinguir as coisas – “quem bate esquece e quem apanha não”.
Depois que já estávamos morrendo de vergonha, pela humilhação e por olhares de pessoas na rua que nos condenavam como se fôssemos bandidos, a mãe de um amigo, quando nos viu daquele jeito, falou: “entre meu filho, esses homens são perigosos, alguns são da polícia mineira”. Acho que intuitivamente entendi o que era polícia mineira. Eles faziam um justiçamento com as próprias mãos e não acreditavam nas regras da própria instituição que os empregava. Era um resquício da ditadura militar e que a gente, mesmo adolescente, nas relações das ruas do subúrbio carioca, com jogo do bicho, paixão por carnaval e futebol entendia mais ou menos. Existe muita coisa entre a milícia carioca e a polícia mineira. E, nas relações de amor e ódio entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, o maior galo que existe é o de Quintino e ele é flamenguista (Yuri Marçal, nosso Jesus favelado, precisa entender isso).
Como carioca da gema e filho de um baiano e uma mulher mineira, que me ensinaram a gostar de desfile de escola de samba (sou Beija Flor, mas com sentimento de amor pela Mangueira) sempre trarei comigo a alegria da composição que homenageou Drummond e falou: “Itabira, em seus versos ele tanto exaltou, com amor, eis aqui a verde rosa, cantando em verso e prosa, o que o poeta inspirou” e, a partir de hoje, carregarei também as cenas pusilânimes que aviltam a dignidade, violam os direitos humanos e descumprem prerrogativas fundamentais do ECA. Covardia feita por aqueles dois policiais contra uma mãe com seus filhos indefesos.
Em três décadas de ECA a violência não foi superada e a polícia mineira continua a existir. O modo de produção capitalista reproduz uma cultura patriarcal, racista e eugênica. Mas também produz um chamado “Estado democrático de direito”, que não é tão direito e não é pra todo mundo. Seus representantes estão envoltos num conjunto de relações sociais profundamente desiguais e hesitam em resolvê-las por que a violência é estruturante e estrutural nessa forma de organização social. As instituições do Estado burguês santificam a propriedade privada e os interesses das classes dominantes em detrimento das pessoas, principalmente as pobres e negras. O Estado capitalista estrutura a violência dessas instituições e que são reproduzidas pela ideologia e pelas atitudes desses PMs. Por isso eu quero o fim da polícia militar e daqueles que covardemente fazem uso dessa insígnia para matar e oprimir. Como no Rap dos Racionais, “se eu fosse mágico não existia droga, nem fome e nem polícia”.
A lembrança de uma alegria efêmera caminha ao lado da frustração e o ódio de classe (que se expressa na raiva desses dois PMs desgraçados!). Escrever está me ajudando a superar um trauma e a perdoar o colega que jogou a pedra e quebrou a cabeça do policial. Onde quer que você esteja eu lhe perdoo (e lhe admiro). E fico pensando se o fogo nos racistas é um discurso ou um projeto?
Por fim, faço aqui dois apelos. Um para a militância e outro para as autoridades mineiras. Para militância classista, ambientalista, antirracista e antimachista… Além dos nossos compromissos com a garantia de emprego para todas as pessoas, a redução da jornada de trabalho, o acesso à renda e o fortalecimento da educação e das demais políticas sociais (assuntos que nós produzimos muito conhecimento), o tema da autoridade estatal (que pode ser civil e não militar), da segurança pública e da família, não podem ser pauta do senso comum propagado pela direita reacionária. Precisamos discutir isso com urgência e seriamente se quisermos, não apenas, êxito eleitoral, mas que, acima de tudo, a sociedade nos veja novamente como um segmento social relevante. Que as autoridades mineiras não fechem os olhos e entrem em ação para reparar as atitudes covardes dos membros da corporação e, sobretudo, priorizem a garantia de proteção para as crianças e para essa mãe. Governador de Minas, “tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor, me faça esse favor”.
A vida exige de nós sabedoria e força para não sucumbir. Precisamos também de um pouco de esperança, apoio e otimismo para mudar, por meio da luta coletiva, o rumo das coisas. Então, precisamos resistir!
*Doutor e Mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós Graduação em Serviço Social da UERJ. Bacharel em Serviço Social pela UFRJ. Educador social, assistente social 13.948 CRESS 7ª Região e professor adjunto da Escola de Serviço Social da UFF. Docente do Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da UFF, coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Direitos Humanos, Infância, Juventude e Serviço Social (NUDISS) e membro da comissão ampliada do GTP – Serviço Social, Geração e Classes Sociais da ABEPSS. Fez parte da Diretoria do CRESS 7ª Região na gestão 2002-2005 e 2014-2017.









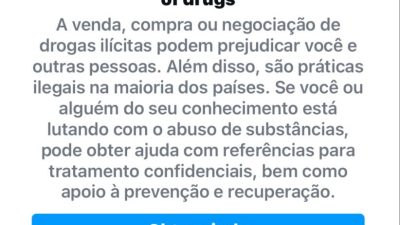
Comentários