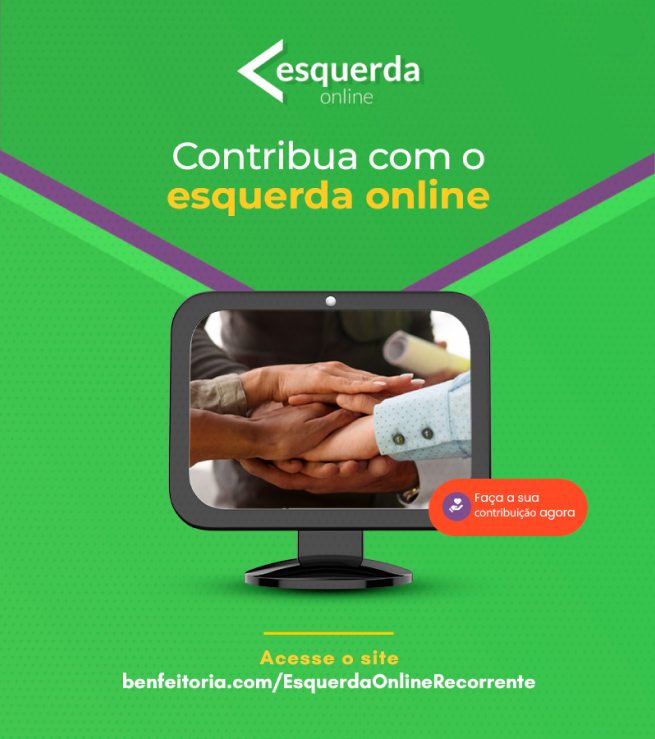Precisamos debater sobre masculinidades?
Publicado em: 28 de abril de 2025
File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrea_Mantegna_-_St._Sebastian_-_Google_Art_Project.jpg
Escrevo este texto para relatar um diálogo ocorrido no Festival Mulheres em Luta. Por um breve período, fui encarregado de acompanhar a professora Alice Evans, uma vez que necessitaria de tradução simultânea do português para o inglês.
Evans é uma renomada pesquisadora da Universidade King’s College. Debruça-se principalmente sobre a desigualdade de gênero ao redor do mundo e estava profundamente interessada na dinâmica do movimento feminista no Brasil. Assim, ao mesmo tempo em que prestava atenção nas traduções feitas com meu inglês levemente enferrujado, fazia-me diversas perguntas sobre a realidade do nosso país.
Houve um debate específico que chamou sua atenção e que a deixou intrigada. Passamos algumas horas em diálogo tentando encontrar as melhores respostas para seus questionamentos. Reproduzo aqui algumas de nossas reflexões.
Sobre a violência
Enquanto se desenvolvia, no plenário, o painel Mulheres negras por reparação e bem viver: MEL rumo à Marcha das Mulheres Negras, a companheira Débora, do Coletivo Mães de Maio, denunciava a violência estatal contra os corpos negros e periféricos no Brasil.
Tal fato gerou um certo estranhamento em Evans. Para ela, era intrigante haver uma mesa sobre violência policial em um evento onde se discutia exclusivamente uma agenda feminista. De fato, era surpreendente para a professora que um movimento de mulheres organizadas colocasse em primeiro plano não a luta contra a violência que essas mulheres sofriam sobre seus próprios corpos, mas sim a violência que acometia toda a sua comunidade.
Acredito que, nesse momento, o interesse da pesquisadora sofreu uma leve inflexão e iniciamos um debate sobre as raízes da violência no Brasil. A pergunta chave que me foi feita e sobre a qual procuramos nos debruçar em seguida foi a seguinte: as forças policiais seriam responsáveis pela maioria das mortes violentas no país?
Prontamente respondi que não. De fato, de todos os assassinatos que ocorreram no ano de 2022, por exemplo, “apenas” um em cada seis foi cometido por forças policiais. Acredito que seja um número alto para os parâmetros de um regime pretensamente democrático, no qual espera-se que o Estado seja o garantidor da vida e não a foice da morte. Mas, mesmo assim, um número consideravelmente inferior ao número total de homicídios em nosso país.
Disse a ela que algo em torno de setenta e cinco por cento desses homicídios acometiam pessoas negras, oitenta por cento eram homens, metade eram jovens. Quando olhamos para a violência policial, todos esses números sobem para algo em torno de oitenta a mais de noventa por cento.
Seu questionamento continuou: se as forças policiais não são a maior fonte de violência para essas mulheres, se a maior parte dos homicídios que acometem sua comunidade vêm de dentro, por que as mulheres negras não estão debatendo sobre isso?
Meu reflexo imediato foi dizer que a violência do Estado não se manifesta somente através das polícias, mas também a partir do abandono e da negligência. Disse que, caso o Estado brasileiro tivesse historicamente isolado, abandonado e marginalizado um grupo de pessoas brancas, a violência entre esse grupo seria a mesma que vemos nas comunidades brasileiras racializadas.
Mas, para ela, isso também era relativamente óbvio. Por isso, continuou perguntando: e por que exatamente esses homens estão se matando? Nesse momento, só pude responder aquilo que a experiência me ensinou. A saber, o motivo, no final das contas, é que matar ou morrer se torna a única opção viável, a única saída vislumbrável.
De fato, a estes homens é reservado um destino de tamanha brutalidade simbólica e material que a ideia da morte se torna algo pequeno, irrelevante. É preferível arriscar sua liberdade ou sua vida se juntando a facções do que seguir na miséria absoluta e, muitas vezes, sem condições de alimentar suas próprias crianças.
O medo e a violência, aliás, se apresentam na vida de uma criança brasileira desde muito cedo. Minha ouvinte ficou um tanto quanto estarrecida quando contei como era o nível de violência em minha escola, especialmente entre os meninos. Como eram recorrentes o bullying e os confrontos físicos, em um nível crescente de periculosidade quanto mais velhos ficávamos.
No ensino médio, quando alguns dos alunos já eram egressos do sistema socioeducativo, cheguei ao ponto de ver colegas carregando armas de fogo na bolsa ou tendo que mudar de cidade por causa de ameaças de morte feitas por inimigos seus ou de seus parentes. Certa vez, passando aleatoriamente em frente a uma igreja evangélica, presenciei o velório de um jovem de treze ou quatorze anos. Preto. Não foi preciso que perguntasse o motivo de sua morte. Era possível ver o ferimento circular tampado com algodão em sua testa.
Aliás, Alice estava muito interessada em descobrir como as igrejas evangélicas haviam crescido exponencialmente no Brasil nos últimos anos e como detinham tanto poder e dinheiro. Obviamente, expliquei-lhe que essas igrejas forneciam abrigo espiritual para essas pessoas que eram marginalizadas pelo Estado.
Entretanto, mais que isso, era nítido o grande caráter empresarial que as igrejas adquiriram com o avanço do neopentecostalismo. Hoje, funcionam como verdadeiras franquias internacionais. Há uma estrutura territorializada com bastante capilaridade, com um nítido esquema de pirâmide, em que a fonte primária de enriquecimento se dá por meio da exploração do dízimo dos fiéis sob promessas de realizações milagrosas nas vidas das pessoas.
Ser pastor ou pastora, por fim, acabou se tornando uma das principais alternativas para o jovem da periferia do capitalismo neoliberal. Não tendo tido ensino formal de qualidade que o permitiria ascender dentro da concorrência desleal do mercado de trabalho, vê na pregação uma alternativa de sustentar a si e a sua família. Afinal, foi a única coisa que teve oportunidade de aprender na infância. As igrejas forneceram os únicos espaços onde recebeu acolhimento.
Vendo a realidade como ela é, não é nada surpreendente ou contraditório o fluxo de pessoas entre do tráfico de drogas e a prostituição para a pregação evangélica.
Uma questão de honra
Entretanto, minha interlocutora queria que eu explicasse a violência contra a mulher. Ou seja, como esse ambiente de brutalidade se expressava no contexto das relações de gênero. Pois bem, a chave para entender a mentalidade violenta dos homens com que convivi não passa somente por necessidades pragmáticas de sobrevivência. Há algo profundamente vinculado à figura masculina e que lhe é muito caro: sua honra perante seus pares.
Com honra, nesse caso, não me refiro a grandes qualidades como a honestidade, o compromisso ou a perseverança. Refiro-me a características como força bruta, poder financeiro, virilidade e, como não poderia deixar de ser, a capacidade de usar, subjugar e dominar as mulheres.
Dessa forma, situações mínimas poderiam levar a homicídios caso ferissem a “honra” de um homem. E isso era desse jeito desde muito cedo. Na infância e adolescência, manter a honra significava demonstrar ser o mais resistente em uma troca de socos ou ser o primeiro a se envolver em atividades sexuais.
Na vida adulta, derrubar uma cerveja em um homem na frente de sua namorada, ainda que por acidente, poderia significar o seu fim: um empurrão se convertia em socos, os socos em ameaças de morte e as ameaças em realidade. Como disse, algo não muito diferente do que ocorria na infância e adolescência, só que agora envolvendo pessoas com um potencial ofensivo muito maior.
Voltando ao caso específico da relação do homem com a mulher, contei-lhe o caso de Maria. Com seu marido desempregado e alcoólatra, teve que sustentar o provimento da casa mesmo quando grávida. Sendo a detentora do dinheiro, mantinha um controle sobre o ambiente doméstico de uma maneira certamente insuportável para ele. Não bastava estar desempregado, tinha que ver sua mulher possuindo mais poder dentro de casa.
Isto posto, não foram raras as vezes em que, bêbado, foi à escola onde Maria trabalhava para tentar arrastá-la à força de volta para casa. Mesmo se isso significasse a completa miséria da família?, questionou a pesquisadora. Ainda assim, disse eu. E não era somente o marido que pensava de tal maneira. Até seus pais e sogros tinham visões parecidas: “uma mulher de respeito não deveria sair de casa”.
Tenho plena certeza de que foi o profundo nível de insatisfação e frustração consigo e com as expectativas que aqueles ao seu redor colocavam sobre ele que o levou até seu último ato de desespero: ameaçar seu filho de morte, chegando muito próximo de fazê-lo em uma de suas recaídas.
Maria teve de se separar e mudar de cidade. Passou a ser vista como pecadora pela própria família, como culpada por abandonar o casamento. Talvez esse seja o mais grave dos episódios de violência que sofreu enquanto mulher. Mas nada disso a interrompeu. Uma mulher de origem camponesa, que trabalhou como empregada doméstica sem receber salário para concluir seu Magistério de nível médio, hoje é mestra e cursa direito como sua terceira graduação, com foco no direito do trabalho.
Maria é minha mãe. Carrego essa história comigo desde que me entendo por gente. Desde o primeiro momento em que a questionei sobre a separação, ocorrida quando eu tinha apenas quatro anos de idade, sua resposta sempre foi a mais honesta possível. A carestia, o desemprego e a violência estão no cerne da minha compreensão da realidade.
Precisamos debater sobre masculinidades?
Após as passagens que mencionei acima, Alice me fez uma de suas últimas perguntas, algo parecido com: mas por que o MEL não estava discutindo isso? Por que não estavam debatendo sobre masculinidades? Por que não deram um espaço para que os homens pudessem colocar o debate que havíamos acabado de fazer?
Bem, quanto à organização do evento e suas prioridades, realmente não tinha como dar uma resposta satisfatória. Entretanto, com relação ao debate sobre masculinidades, respondi-lhe que, para mim, não era uma abordagem muito aprazível ou eficaz.
Contei-lhe que, dentro de muitos círculos de discussões como esse, era comum tratar essa masculinidade doentia como mera questão de uma “mentalidade” a ser combatida. Tal concepção não me contempla de maneira alguma. Pelo contrário, enfurece-me. Disse-lhe que é impossível mudar a mentalidade desses homens sem que fôssemos capazes de mudar sua realidade.
Talvez, inclusive, essa seja a perspectiva das mulheres negras e indígenas, cujo foco de atuação política não está na esfera da defesa individual de seus próprios corpos, mas sim na defesa de seus territórios, como dissemos anteriormente. Incomoda-me muito a maneira abstrata ou individualista com que muitos abordam o tema.
Percebam que não estou dizendo ser desnecessário debater e combater a mentalidade masculina hegemônica. O ponto é perceber que é impossível provocar mudanças ideológicas no seio da sociedade sem alterar a raiz material sobre a qual essas ideologias estão sustentadas.
De fato, a meu ver, a existência dessa masculinidade no Brasil se dá pela intersecção de diversos fatores realmente estruturais e sobre os quais pouco se fala. Somos um país de origem católica, tradição religiosa da qual herdamos as noções de família que possuímos, e no qual até as mais ínfimas reformas estruturais das Revoluções Liberais fomos incapazes de implementar por completo.
Todos os processos democráticos pelos quais passaram os países do norte global chegaram até nós atrasados e foram feitos de maneira lenta, desigual, precária e parcial. São exemplos a reforma agrária, a abolição da escravidão, a industrialização, a urbanização etc.
Há uma relação direta entre a plena implementação dessas reformas, a secularização do Estado e a independência da mulher, dos negros e das LGBTs. O elo entre essas mudanças está na alteração da forma de organização do trabalho: antes intrinsecamente atrelado à noção cristã de família e à divisão de tarefas dentro do núcleo familiar, passou a ser organizado a partir de sua forma assalariada, totalmente secular e orientada pelos interesses do capital.
É por isso, por exemplo, que as lutas feministas e do ativismo LGBT avançaram muito mais em grandes centros urbanos do que em regiões de interior, locais onde ainda impera a divisão familiar e tradicional do trabalho. É essa a chave material da libertação das identidades minoritárias, embora, ao mesmo tempo, o trabalho assalariado tenha gerado e ainda gere o aprisionamento na lógica do capital.
Mas questionar a opressão às minorias clamando por grandes reformas estruturais de cunho liberal/democrático não é contraditório. Pelo contrário, são complementares. A demanda pelo aprofundamento de conquistas democráticas necessariamente entrará em conflito com a aristocracia dominante. Essa é a essência da ideia trotskista da Revolução Permanente.
A característica reacionária do neofascismo
A classe trabalhadora atravessa um grande ciclo de derrotas. A queda da União Soviética e o aprofundamento das contrarreformas neoliberais, para a nossa desgraça, transformaram algo que já era precário em nosso país em algo ainda mais precário. Se nos grandes centros do capitalismo financeiro mundial — onde as reformas estruturais foram feitas de maneira muito mais plena, embora ainda com contradições e retrocessos — esses avanços estão sendo ferozmente contestados, imagine em lugares como o Brasil.
Quiçá seja por isso que a conclusão a que Alice chegou foi a de que, para combater a violência contra a mulher no Brasil, precisamos de mais Estado. O paradigma neoliberal está em ruínas, chegando em seu limite máximo de sustentação. É preciso, portanto, que um novo paradigma surja. Por isso o apelo ao conservadorismo é tão relevante. Para a burguesia, é preciso fazer com que esse novo paradigma não aponte no sentido de seu próprio fim.
Isso explica porque figuras como Elon Musk defendem movimentos reacionários tais como o movimento das tradwives, ou esposas tradicionais. Como elencamos neste texto, seu objetivo político final, sua distopia, é questionar a própria noção de Estado moderno em uma perspectiva anarcocapitalista/neofeudalista. Isso explica também o apelo ao moralismo conservador da extrema direita, com ataques incessantes aos direitos reprodutivos, LGBTs e minorias raciais.
Para os homens estadunidenses, o avanço do neoliberalismo significou uma redução brutal do Estado de Bem-Estar Social, o aumento da exploração da mão de obra, a perda de postos de trabalho, o aumento das responsabilidades de provedor para com a família e o sentimento de fracasso por não conseguir cumprir com as expectativas colocadas.
Não é por mero acaso que o eleitor médio de Trump seja o homem branco e com baixa escolaridade. Este homem colocará a culpa da piora de suas condições de vida nos imigrantes, nos produtos chineses, nos intelectuais, nas feministas etc., desenvolvendo, consequentemente, um profundo ódio a tudo que esses elementos representam. Jamais culpabilizará o neoliberalismo e a classe dominante. Paralelamente, absorverá com louvor tudo aquilo que simbolize o retorno a um falso passado no qual supostamente teria mais poder na sociedade.
Já para o homem brasileiro, que jamais teve acesso ao padrão de vida de um norte-americano, encontrará seu impulso reacionário em grande medida no descontentamento com o programa petista. Afinal, esperava uma ascensão social muito superior àquela que os governos petistas foram capazes de propiciar. A extrema-direita, por outro lado, aparece como uma alternativa promissora, com promessas falaciosas de um padrão de vida igual ao estadunidense — além de, obviamente, reforçar ao máximo os papéis tradicionais de gênero.
Dessa forma, para contrapor esse fenômeno de caráter internacional que chamamos de “neofascismo”, especialmente fértil em terras brasileiras, mais que discutir formas de “desconstruir” a masculinidade hegemônica, ou melhor, mais do que propor abstratamente formas de masculinidade não hegemônicas, é preciso que nos atenhamos àquilo que dá estrutura à hegemonia masculinista.
Combater, portanto, a violência entre os homens é, antes de tudo, superar a lógica neoliberal e sua consequência natural, o neofascismo. As mulheres cumprem um papel determinante nessa tarefa, mas não é, e nem pode ser, dever exclusivamente das companheiras.
Além disso, é preciso que a esquerda, em frente única, empenhe-se na elaboração de um programa concreto de conquistas para a classe trabalhadora, programa este que, caso seja efetivo, certamente entrará em choque direto com a conciliação de classes e com seus pilares de funcionamento. É esse o desafio que a conjuntura nos coloca. Que estejamos à altura dessa tarefa.
Top 5 da semana

colunistas
2025, o ano por Sem Anistia
brasil
Deputada Bella Gonçalves denuncia Zema ao STF por descumprimento da Política Nacional para a População em Situação de Rua
mundo
Venezuela entre a crise e a invasão
mundo
As características centrais do segundo mandato de Trump
brasil