Enzo Traverso é professor da Universidade de Cornell. Reconhecido historiador, sua obra explora o longo século XX, analisando temas como as intersecções entre marxismo e judaísmo, nazismo e fascismo, revoluções e movimentos socialistas. Entre outros títulos, publicados em diversos idiomas, destacam-se Melancolia de esquerda (Âyiné, 2022) e Revolução (ainda sem tradução para o português).
A editora Verso acaba de publicar A questão judaica. História de um debate marxista [https://versolibros.com/products/la-cuestion-judia], uma atualização de sua tese de doutorado em que analisa a história do debate sobre a questão judaica na tradição marxista de Karl Marx à Escola de Frankfurt. Conversamos com Traverso em Barcelona, depois de sua conferência no seminário “Europa, laboratório das ideias”, organizado pelo Centro de Cultura Contemporânea da capital catalã (CCBB).
SV: A questão judaica é um debate que atravessou os séculos XIX e XX. Ela persiste na esquerda ou é apenas parte da história das ideias?
ET: Esse debate, junto com muitos outros, pertence à história do marxismo e, consequentemente, à história intelectual da esquerda. Como muitos outros temas, como a questão nacional e outros menos lembrados, deve ser redescoberto e reinterpretado, já que constitui parte do patrimônio da memória e teoria da esquerda.
Não acredito que seja crucial, por exemplo, que leiam meu livro na Catalunha de hoje para buscar uma saída para a situação política. Mas, ao mesmo tempo, creio que seria importante que os catalães soubessem que esse tipo de problema já existiu em muitos outros contextos e épocas e que a esquerda tentou solucioná-lo. O debate era: como se define uma nação? O que é uma nação? Qual é o futuro das nações? A esquerda da época que investigo em meu livro adotou diversos enfoques. Havia marxistas que diziam que o socialismo representava a máxima expressão das identidades e culturas nacionais. Outros argumentavam que o socialismo conduziria a um mundo pós-nacional, onde a humanidade já não se distinguiria em nações. Inclusive, muitas vezes coexistiam no mesmo partido esses dois enfoques.
A questão que alguns colocaram foi: se vivermos em um mundo pós-nacional, cosmopolita, com uma humanidade unificada, que língua falaremos? Claro que naquele momento, na Europa Oriental, predominava o russo, deixando de lado outros idiomas, como o ucraniano, o lituano ou o armênio. Surgiram formas de nacionalismo expressas a partir de uma perspectiva universalista. Também houve reivindicações nacionalistas regressivas, que propunham construir uma nação separando as pessoas. Esse é um debate muito antigo que segue ecoando hoje.
SV: Ia perguntar justamente sobre isso. Existiram muitas grandes “questões”: a nacional, a judaica, a meridional, a negra. A esquerda internacional já discutiu amplamente sobre identidades, nacionalismo e o papel do “outro”. Você mencionou a alteridade. Em algumas entrevistas recentes, você também tem apontado para um sentido de identidade compartilhada, de identidades não exclusivas. Poderia desenvolver os conceitos de alteridade, de “outro” e de minorias?
ET: Eu diria que as minorias constituem o elemento que desafia o nacionalismo. São importantes porque servem como um tipo de indicador para medir o grau de uma democracia. Acredito que uma democracia que respeita suas minorias é uma democracia verdadeira, ao contrário daquela que rechaça a alteridade e se concebe como um corpo homogêneo e monolítico. Isso é incompatível com os valores democráticos. Geralmente, as minorias desvelam todas as contradições, ambiguidades e tendências negativas de um sistema de poder. Por exemplo, a crise catalã, com um referendo bloqueado pelo Estado central e a repressão subsequente, assim como as mobilizações recentes contra uma possível anistia, expôs as contradições da democracia nascida na transição espanhola.
No entanto, falar sobre minorias sempre requer uma interpretação dialética. Pois, nos marcos de um Estado multinacional, as minorias em um contexto podem tornar-se maiorias em outro. Além disso, há minorias que, ao lutar por seus direitos frente à opressão e ganhar sua batalha, podem virar intolerantes em relação a suas próprias minorias. Então, na questão judaica, debatia-se a necessidade de reivindicar a assimilação como progresso, o que poderia estigmatizar a identidade cultural das minorias, ou se o melhor seria lutar por independência, por autonomia nacional e cultural. Ou, ainda, por um Estado federativo. No império dos czares ou no Império Austro-Húngaro, por exemplo, todas essas opções poderiam ser viáveis.
SV: É possível que atualmente, na Europa Ocidental, a questão judaica esteja se transmutando em novas questões, como a muçulmana ou a cigana, por exemplo?
ET: O preconceito contra os ciganos não tem sido muito debatido, infelizmente. Talvez na Espanha seja mais discutido que em outros lugares. Quando digo que o nacionalismo, especialmente o de direita, que teve uma relação simbiótica com o fascismo, sofreu uma metamorfose no século XXI, com seu eixo central transicionando do antissemitismo à islamofobia, estou afirmando que a questão islâmica irá se tornar o prisma através do qual a Europa definirá sua identidade democrática.
As direitas radicais em ascensão reivindicam a ideia de que a Europa tem raízes judaico-cristãs incompatíveis com o islã. Isso implicaria que o continente não pode ser democrático. Por outro lado, a integração do islã como um de seus componentes, em um marco democrático plural, será um indicativo de que viveremos uma democracia saudável.
SV: Recentemente, relendo seu livro, notei que um leitor ibérico pode não entender o conceito de emancipação do judeu por não haver passado por uma “questão judaica” desde 1492 [ano de expulsão dos judeus da Espanha]. Você poderia explicar um pouco a questão da emancipação do povo judeu para que se entenda melhor esse processo?
ET: A emancipação dos judeus é um processo que começou no século XVIII, com a emergência de várias figuras da Ilustração que reivindicavam a emancipação jurídico-política dos judeus, ou seja, outorgar-lhes direitos. Ao mesmo tempo, surgiram figuras dentro do mundo judaico que exigiam sua própria emancipação. Tratava-se de transformar os judeus de uma minoria tolerada, excluída e discriminada – pois não podiam acessar uma série de direitos comuns aos cidadãos do império – em cidadão plenos.
Esse tema gerou um grande debates, já que implicava em definir novamente a cidadania. Ou seja, o judeu é um cidadão francês, alemão, italiano, etc. – o que implicava relegar a religião a um aspecto privado da vida cotidiana? Ou deveria ser reconhecido como cidadão, não como francês ou alemão da religião judaica, mas como cidadão judeu? Esse foi um debate importante nessa época e continua sendo. Mas a chave da emancipação judaica é que ela não foi conquistada num processo de luta por libertação, mas foi outorgada pelo poder constituído, desde cima.
Foi a Revolução Francesa, na qual os judeus tiveram um papel muito marginal, que os emancipou. Também foram importantes as mudanças trazidas pelas Guerras Napoleônicas, que outorgaram cidadania a judeus, e, posteriormente, a unificação alemã. Esse processo contrasta, por exemplo, com a emancipação do povo negro, que está vinculada à Revolução Haitiana e a luta dos escravos pela abolição. Isso tem muitas implicações. Ao longo da história do mundo moderno, os judeus se consideraram em dívida com o poder que os emancipou.
A figura do judeu revolucionário que emerge no século XX – que participava de não apenas de movimentos judaicos, mas também universais – segue tendo a consciência de que possui o privilégio de não ter conquistado suas próprias liberdades.
SV: Na raiz desse tema estão os debates atuais entre universalismo e particularismo, nos quais surgiram diversas correntes de ideias. Por exemplo, a teoria da “igualiberdade”, de Etienne Balibar, as teorias decoloniais que falam de um “pluriversalismo”, ou Asad Haider, em A armadilha da identidade, que reivindica o conceito de “universalismo insurgente”. Qual você acha que deveria ser a proposta política da esquerda para resolver a contradição ou a dialética entre universalismo e particularismo?
ET: Essa dialética implica a superação da contradição entre universalismo e particularismo. Um universalismo que nega as particularidades é pernicioso. Um particularismo que não se inscreve em uma perspectiva universal também é ruim. O universalismo é uma totalidade composta de particularidades e diversidade. Essa é a essência da política.
Eu sou crítico a muitos aspectos do pensamento de Hannah Arendt. Mas, na definição da política, considero sua herança crucial. A política implica a coexistência de sujeitos diferentes. É a interação entre sujeitos diferentes. E os princípios da alteridade e da diversidade são constitutivos da política. Se a política se converte na criação de uma comunidade homogênea, torna-se sua própria negação. Ou seja, torna-se a política do fascismo.
Falando de categorias lógicas, há um universalismo que é a visão cosmopolita das elites e há um universalismo desde baixo, que é de outro tipo, é um universalismo fecundo. Uma sociedade plural conquistada por uma revolução funciona muito melhor que uma sociedade plural em que uma elite ilustrada quer educar um povo bárbaro.
SV: Na Europa, estão surgindo correntes que têm origem na esquerda, mas que compartilham grande parte da agenda política e midiática da extrema direita: nacionalismo exclusivista, fronteiras, migrações, antifeminismo e negacionismo ambiental, em diferentes graus. Seriam ecos de épocas anteriores? Já existiu uma esquerda assim em outros momentos da história?
EH: Penso que essas tendências regressivas devem ser reconhecidas. Pertencem à história da esquerda. São uma herança que ressurge periodicamente. No caso da esquerda alemã, por exemplo, estão vinculadas à história da Alemanha. Mas tendência nacionalistas similares existem também na França. O nacional-republicanismo, por exemplo, é uma delas. Ou quando setores da esquerda francesa se opõem ao véu, explicitando que os muçulmanos estão fora, porque é uma maneira de afirmar uma identidade francesa que é incompatível com a alteridade muçulmana. Não é a postura de toda esquerda francesa. No entanto, essas tendências existem e considero que podem ser encontradas em todos os países.
SV: Como podemos lutar contra essas correntes?
ET: É necessário confrontá-las numa batalha ideológica, intelectual e política. Quando se organiza uma luta contra o racismo e a xenofobia, as coisas ficam mais simples. Não é possível fazer isso sem estabelecer as regras do jogo, por que os problemas requerem soluções muito concretas.
Ao fim e ao cabo, trata-se de estabelecer posições claras. Por exemplo, onde estão os franceses de origem estrangeira nas candidaturas de esquerda? Ou na Alemanha, onde existe uma minoria de alemães de origem turca não muçulmana? É notável como alguns partidos lidam melhor com esse problema do que outros. Por exemplo, há lideranças nacionais e parlamentares em alguns países com sobrenomes turcos. A luta contra a xenofobia é, claro, uma luta contra a direita, mas é também uma luta no interior da esquerda.
SV: É possível dizer que o ano de 1945 foi um ponto de quebra do antissemitismo na Europa?
ET: O antissemitismo ainda existe, tanto na Europa como nos Estados Unidos, evidenciados por atos violentos, como massacres em sinagogas e atos terroristas. O terrorismo islâmico é fortemente antissemita. A luta contra o antissemitismo segue sendo parte da agenda polítca da esquerda, ainda que se saiba que ele não é mais que um eixo do conservadorismo nacionalista.
SV: Dentro da esquerda, temos visto acusações de antissemitismo muitas vezes vinculadas à defesa da Palestina. Isso também tem sido utilizado contra lideranças como Jeremy Corbyn. Qual é a sua opinião sobre esse uso do antissemitismo nas lutas internas da esquerda?
ET: Evidentemente, existe uma instrumentalização do antissemitismo para dirimir problemas internos da esquerda. Acusar um adversário de antissemitismo em um debate é uma tática com grande apelo midiático na Europa. O emprego demagógico do termo, especialmente para depreciar ou estigmatizar o antissionismo, é um problema sério.
Uma esquerda que não critique o sionismo, especialmente em um momento em que esse movimento tem como referência figuras como Benjamin Netanyahu e em um governo de tendência quase fascista, não merece ser chamada de esquerda. Creio que a esquerda deve ter uma postura clara sobre esse tema e não ceder às falsas acusações de campanhas midiáticas da direita. É fundamental combater essas mentiras, similares às dos anos 20 e 30, quando se acusava a esquerda de ser muito “filossemita”.



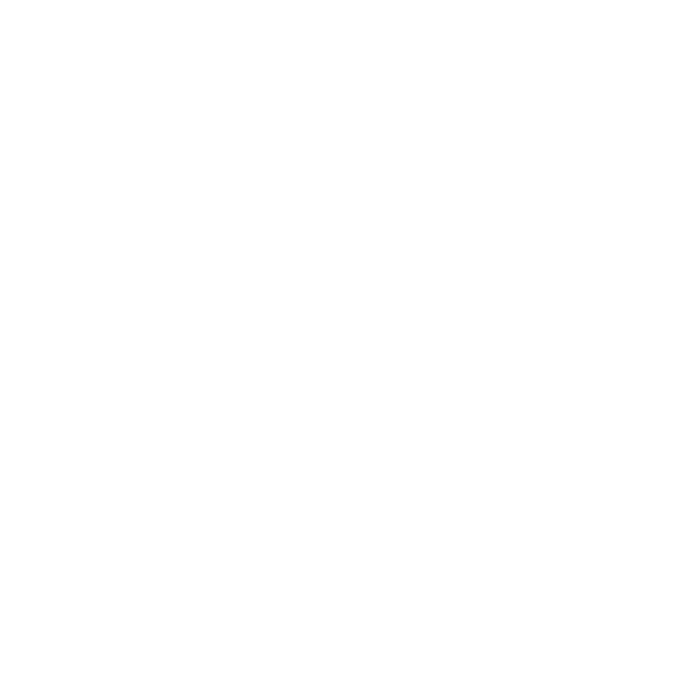
Comentários