Joe Biden venceu as eleições numa disputa focada quase exclusivamente na política interna dos Estados Unidos. O democrata concentrou-se na superação da pandemia e em retomar a “normalidade” burguesa. Enquanto isso, a campanha de Trump foi centrada na manutenção da economia aberta em meio à crise da Covid-19 e no fortalecimento do nacionalismo branco.
Nas discussões durante o período eleitoral, a esquerda socialista quase não falou das propostas dos candidatos para a política externa dos EUA. A primeira atitude de Biden no cargo – a nomeação de sua equipe de segurança nacional – finalmente forçou a encarar esse debate de frente.
Na apresentação dos nomeados, o novo presidente declarou que a “América está de volta e pronta para liderar o mundo, não se retirar dele. Vamos voltar a sentar na ponta da mesa. Prontos para enfrentar nossos adversários e não rejeitar nossos aliados”. A declaração de restauração imperial chamou a atenção da esquerda.
Muitos ativistas denunciaram o passado militarista de Biden, expuseram a ligação de seus nomeados com a indústria militar e a inclinação beligerante do time. Alguns, na inocente esperança de convencer Biden a adotar uma postura progressista para a política externa. Eles serão duramente desapontados.
Cria do establishment, o novo presidente está determinado em garantir a preponderância norte-americana em um momento de mudança no equilíbrio de poder entre os Estados no capitalismo global. Ele deixou claro que sua gestão “não será uma continuação do mandato de Obama, porque (…) vivemos hoje em um mundo totalmente diferente”.
Assim, a proposta combina elementos do multilateralismo de força de Obama (uma aparente evolução da “tradição do internacionalismo de força” do Partido Democrata, celebrada por John Kerry em 2004 com o foco de Trump na disputa com China e Rússia. Essa postura não é um anúncio da paz que os liberais sonhavam, mas uma perigosa reafirmação do poder imperial dos EUA.
A crise de estratégia do imperialismo norte-americano
A estratégia de Biden foi desenhada para superar uma crise: os Estados Unidos estão confrontados com rivais imperiais e regionais pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria. Nos anos 1990, os EUA eram a única superpotência mundial e orientavam-se por uma estratégia de hegemonia neoliberal em um mundo unipolar.
Washington operou para impedir a ascensão de qualquer competidor à sua altura ou de alianças de Estados que pudessem questionar seu domínio. Através do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio (OMC), impôs o neoliberalismo ao redor do mundo, integrou os países de todo o mundo em instituições políticas como a ONU e usou seu poderio militar e as forças da OTAN para policiar países e regiões afundados em crises e os chamados “Estados Delinquentes” [Rogue States].
Três fenômenos precipitaram o relativo declínio do poder imperial norte-americano. Em primeiro lugar, o boom neoliberal, que levou à ascensão de novas potências econômicas, especialmente da China, que hoje rivaliza com os EUA e suas multinacionais.
Além disso, as “guerras eternas” no Afeganistão e no Iraque diminuíram a capacidade de Washington atuar como polícia mundial. Finalmente, a Grande Recessão iniciada em 2008 atingiu em cheio os Estados Unidos e seus aliados, enquanto a China e outros países continuaram crescendo.
Esses acontecimentos deram origem a uma nova ordem mundial assimétrica e multipolar. Embora ainda se mantenha como potência dominante, os EUA agora enfrentam uma série de rivais. Por isso, não podem mais dominar a moda antiga.
Obama tentou dar nova roupagem à velha estratégia neoliberal revitalizando a economia norte-americana, trazendo a indústria de volta aos EUA, retirando tropas do Oriente Médio e construindo um “pivô asiático”
Mas em nenhuma dessas frentes foi bem-sucedido. Seu estímulo à economia tirou o país da recessão, mas a recuperação foi fraca. As crises no Oriente Médio, particularmente o surgimento do Estado Islâmico, afundaram os EUA em uma nova guerra no Iraque e na Síria, enquanto a “velha guerra” no Afeganistão continuava, bloqueando os planos de transferir os militares para a Ásia. Por fim, a resistência de democratas e republicanos a novos tratados comerciais neoliberais paralisou o seu Acordo de Parceria Transpacífico (TPP).
O nacionalismo de Trump acelera a decadência
Prometendo “Fazer a América grande novamente” colocando o país “em primeiro lugar”, Trump abandonou os esforços de consolidar a hegemonia (neo) liberal e multilateral. Sua nova estratégia – a “hegemonia não liberal” – destinava-se a reconstruir o poder norte-americano com base no nacionalismo branco.
Trump procurou desenvolver quatro iniciativas centrais apresentadas em sua Estratégia de Segurança Nacional. Primeiramente, fortaleceu a chamada segurança doméstica, intensificando a guerra aos imigrantes – historicamente levada a cabo por democratas e republicanos – através da implementação do banimento de muçulmanos e do estímulo à brutalidade policial. Em segundo lugar, na esperança de estimular a economia norte-americana, Trump associou a imposição de tarifas protecionistas, com foco na China, a programas neoliberais de cortes de impostos e desregulamentação no plano interno.
Além disso, o republicano reorientou a estratégia militar da maior potência do planeta, priorizando a competição com China e Rússia e afastando-se da chamada “Guerra ao Terror”. Finalmente, em detrimento do multilateralismo, Trump priorizou a negociação direta e bilateral com aliados e antagonistas.
Ao invés da prometida restauração do poder imperial, Trump acelerou o relativo declínio norte-americano: seu racismo comprometeu a autoconstrução da imagem dos EUA como um modelo de democracia; sua política econômica inflou uma bolha financeira, mas não gerou um grande crescimento da economia real; a Covid-19 disparou uma profunda recessão, piorada pela desastrosa gestão da pandemia; sem conseguir conter a ascensão do Irã, suas atitudes no Oriente Médio escalaram o conflito com o país; seu confronto com a China apenas fez com que Beijing subisse ainda mais o tom; seu método de abordagem bilateral nas relações internacionais distanciou Washington de seus aliados históricos.
Dois importantes funcionários da gestão Obama resumiram os resultados desastrosos: “a saga de Trump projetou uma imagem dos Estados Unidos como potência impositiva e insegura de si mesmo, ameaçadora, mas não confiável. O resultado foi empoderar a China, incomodar a Europa e deixar aliados e inimigos incertos quanto à durabilidade de nossos compromissos e à seriedade de nossas ameaças”.
“A América está de volta” – o plano de Biden para a restauração do império
É por isso que uma fração majoritária do capital norte-americano – em especial os setores mais globalizadas, como as empresas de tecnologia de ponta – assim como da burocracia estatal civil, do Pentágono, da CIA, do Departamento de Estado e até de republicanos que já trabalharam no complexo de segurança nacional, apoiaram Biden nas eleições. Todos eles querem que o democrata restaure a supremacia de Washington e o crescimento e competitividade de sua economia.
Biden desenhou as linhas gerais de sua estratégia no artigo “Why America must lead” (“Porque a América precisa liderar”). Hillary Clinton refinou seus argumentos em “A National Security Reckoning”. Ambos os artigos foram publicados na Foreign Affairs, o truste do pensamento imperialista, como definiu Laurence Shoup.
Independentemente de suas divergências no passado, os dois agora rezam a mesma cartilha. Hilary resume os elementos centrais da estratégia em quatro eixos, os “quatro d’s”: revitalização doméstica, desenvolvimento, defesa e diplomacia.
Para atingir o primeiro eixo, os democratas defendem que o controle da pandemia, colocando o Centro de Controle de Doenças (CDC) de volta no comando, coordenando iniciativas públicas e privadas com os estados e organizando a distribuição de vacinas. Eles argumentam que Washington deve abandonar a retórica racista e xenofóbica de Trump, reverter suas políticas mais extremadas, como o banimento de muçulmanos e a revogação do DACA (Deferred Action for Childhood), e a restaurar as regras da democracia liberal.
Para o desenvolvimento da economia norte-americana, a proposta é adotar uma política industrial que Biden tem chamado de “Build Back Better” [Reconstruir melhor]. Para garantir a supremacia dos EUA em relação à China em ciência e tecnologia, particularmente na disputa pela tecnologia 5G, ele pretende aumentar os investimentos federais em pesquisa e desenvolvimento dos atuais 0,7% do PIB para 4% até 2030.
Biden defende que os EUA devem financiar as suas “campeãs nacionais” para competir com as corporações chinesas como a Huawei. O novo mandatário quer que essas grandes empresas tragam sua produção de volta ao país, nos marcos de seu plano “Buy American” [Compre Americano], e que excluam a China de sua cadeia de fornecedores, mantendo suas aquisições dentro da órbita de aliados e vassalos de Washington.
Com base nesse desenvolvimento de tecnologia de ponta, o presidente eleito planeja reestruturar a indústria de defesa e o exército norte-americano. Biden quer acelerar fortemente o desenvolvimento de armas de alta tecnologia para se contrapor à modernização militar da China e defender os EUA de ataques cibernéticos de Estados como a Rússia, assim como de atores paraestatais.
Hillary Clinton defende que os EUA deveriam abrir mão de bases militares desnecessárias. Em seu artigo, propõe que o país encerre programas de desenvolvimento de armas ultrapassadas, defendendo em seu lugar a instalação de plantas de alta tecnologia para produção de armas para conflitos do século 21. Ela promete que esses “investimentos públicos em indústria de tecnologia avançada, energia limpa e pesquisa e desenvolvimento poderiam criar empregos qualificados e ajudar os Estados Unidos a superar a China”.
Quanto ao último “d”, Biden planeja revitalizar a diplomacia norte-americana, reconstruindo e expandindo o Departamento de Estado, escanteado e estrangulado por Trump. Fortalecido, o aparato será utilizado para recuperar a liderança de Washington em instituições multilaterais como a OMC, tratados internacionais como o Acordo de Paris e alianças militares como a OTAN.
A finalidade desse multilateralismo de força não é nada bondosa. Biden quer utilizá-lo para a competição com outras potências, construindo o que seu Secretário de Estado Antony Blinken chama de “liga das democracias” para disciplinar e conter a China, Rússia e potências regionais como o Irã.
Estabilizando o Oriente Médio
Para poder focar nessas disputas, Biden precisa continuar a política de Trump de retirada de tropas norte-americanas do Iraque e do Afeganistão. No lugar delas, pretende implementar uma estratégia de contraterrorismo, escalando a guerra de drones para assassinar líderes da al-Qaeda e do Estado Islâmico e bombardear suas bases de operação.
Biden vai tentar conter o crescente conflito da Arábia Saudita e de Israel com o Irã, a Síria, o Hezbollah libanês e os rebeldes houthi, do Yemen. Ainda que prometa adotar uma atitude mais crítica em relação a Tel Aviv e Riyadih, contendo suas políticas mais extremas, os dois continuam sendo considerados aliados indispensáveis e estratégicos.
Independentemente de eventuais críticas a políticas israelenses, Biden pretende manter o “compromisso de ferro” com sua segurança. Sua gestão continuará a bancar o regime sionista, repudiar o movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), manter a embaixada norte-americana em Jerusalém e o reconhecimento da cidade como capital do país, assim como chancelar os acordos de paz de Israel com os países do Golfo e sua contínua reaproximação com os sauditas.
Ao mesmo tempo, o novo presidente tem dito que planeja restaurar o financiamento à Autoridade Palestina. Apesar isso, seus assessores já afirmaram que o chamado processo de paz não é prioridade do governo e que não é o momento para abrir negociações pela “solução de dois Estados”.
E, ainda que Biden critique a tomada de terras palestinas, um negociador da gestão Obama, Martin Indyk, avaliou que Biden não deve “querer brigar por causa dos assentamentos”. O establishment sionista está de volta à Casa Branca.
Em relação à Arábia Saudita, o democrata tem tomado uma atitude mais firme. Ele se opôs à terrível guerra no Yemen e cogitou acabar com a venda de armas de ataque ao país. Ainda assim, continua a apoiar os sauditas, baseado em interesses estratégicos comuns, principalmente a aliança contra o Irã.
Com os cachorros loucos de Washington de volta às coleiras, a nova gestão planeja reabrir as negociações com o Teerã para retomar o acordo nuclear abandonado por Trump. Em troca de um recuo, Biden promete derrubar as sanções econômicas.
China, China, China
Se Biden conseguir se livrar das “guerras eternas” e contiver o conflito com o Irã – e esse é um grande se – sua esperança é focar as energias de Washington na competição com grandes potências. As prioridades de sua gestão são, nas palavras de um de seus assessores, “China, China, China, Rússia”.
Como esse mantra evidencia, a prioridade número um do novo presidente é a China, que ele caracteriza como o principal rival estratégico dos EUA, como George W. Bush já fazia. Ainda que o democrata se oponha à retórica da Guerra Fria de Trump, ele está determinado a enquadrar o rival asiático.
Em um dos debates com o antecessor, Biden referiu-se ao presidente chinês como um “bandido”. À revista Foreign Affairs, Biden declarou:
Os EUA precisam ser duros com a China. Se continuarem a fazer tudo o que querem, os chineses seguirão roubando tecnologia e propriedade intelectual dos Estados Unidos e das empresas americanas. Eles também vão manter o uso de subsídios para dar vantagens injustas a suas empresas estatais e torná-las mais fortes para dominar a indústria do futuro.
Diferentemente de Trump, que tentava agredir Beijing unilateralmente, Biden tentará forçá-la a obedecer aos ditames de Washington. Ele já convocou uma conferência de cúpula com seus aliados, incluindo potências europeias, países integrantes da Aliança dos 5 Olhos (EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia), Japão e Índia.
O democrata espera, nas palavras de um membro de sua equipe, construir uma “coalizão para formular novas regras e instituições internacionais de comércio, tecnologia e investimentos que nivelem o campo de atuação e corroam a capacidade de Pequim de lucrar com as práticas anticompetitivas”.
Ao mesmo tempo, Biden planeja colaborar com a China em áreas de suposto interesse comum, como combate às mudanças climáticas e à pandemia e o controle de armas. Ele espera, por exemplo, conseguir que o gigante asiático pressione a Coreia do Norte a abortar seu programa de mísseis em troca de acabar com as sanções que estrangulam o país.
Mas o Comandante em Chefe do exército mais poderoso do mundo não tem nenhuma ilusão que esse tipo de negociação diminuirá a rivalidade. Ele planeja uma ofensiva econômica, diplomática e militar para fortalecer a posição de Washington na Ásia. Assim, é provável que Biden mantenha a taxação de produtos chineses criadas por Trump, ao menos por algum tempo. Ele também quer ressuscitar as tratativas sobre o Acordo de Associação Transpacífico (TPP) para enfraquecer a recente Parceria Regional Econômica Abrangente, liderada pela China.
Biden já está retomando o esforço de Obama para estreitar laços com aliados asiáticos. Ele procurou Austrália, Japão, Coréia do Sul, Índia e Taiwan para assegurar-lhes que terão seu apoio em conflitos com a China.
A nova gestão promete usar os direitos humanos como arma contra a China e sua política terrível contra Hong Kong, Xīnjiāng e Tibet. Não por qualquer comprometimento com as lutas populares, mas para reafirmar os EUA como “líderes do mundo livre” e atrair Estados, movimentos e ativistas para a órbita de Washington.
Conflitos militares na Ásia
Biden pretende reforçar essas iniciativas diplomáticas e econômicas com a força militar. Ele já prometeu ajudar o Japão no caso de um conflito com a China pela posse de ilhas que Tokyo chama de Senkaku e Beijing, de Diaoyu.
O conflito com Taiwan – que a China considera uma província rebelde a ser reintegrada à força, se necessário – é outro exemplo. Biden prometeu seguir a mesma política das últimas gestões: ambiguidade estratégica.
Ao menos retoricamente, o novo morador da Casa Branca apoia a política de “China Única”, que reconhece Beijing como o único governo chinês. Mas ele continuará fornecendo armas a Taiwan para deter o desejo de anexação da ilha, arriscando uma corrida armamentista e uma potencial guerra nesse processo.
Biden também mantém uma postura beligerante em relação às manobras da potência rival no Mar do Sul da China. Ali, os chineses incorporaram e instalaram bases militares em ilhas que são reivindicadas por vários outros Estados asiáticos. A ofensiva é parte de um projeto para controlar importantes rotas internacionais de navegação e reivindicar áreas de pesca e reservas de energia natural submarina.
Em resposta, Obama e, mais tarde, Trump, utilizaram a Marinha e a Força Aérea norte-americanas para assegurar a hegemonia dos EUA na área. Durante as eleições, Biden gabou-se de ter dito ao presidente chinês que os Estados Unidos desafiariam suas reivindicações e continuariam suas movimentações no Mar do Sul. O mandatário agirá para deter a “intimidação militar chinesa”, nos termos da Plataforma do Partido Democrata.
Rússia
O segundo alvo de Biden na competição entre potências é a Rússia. Se Trump tinha uma postura vacilante, alternando entre a admiração por Putin e a imposição de sanções a seu regime, o New York Times afirma que os democratas tornaram-se “o partido do confronto com a Rússia”.
Durante as eleições, Biden classificou o regime de Putin como um “oponente”. Sua ambição é disciplinar o país e, ao mesmo tempo, atraí-lo para fora da aliança com a China, que, se consolidada, combinaria a força de uma potência nuclear rica em petróleo com o poder econômico de Beijing.
Putin tirou vantagem da ambivalência de Trump para fortalecer a presença na Europa Oriental e no Oriente Médio, além de continuar os ataques cibernéticos às eleições norte-americanas e de outros Estados. É por isso que Biden, num momento de exagero dramático, chamou a Rússia de “a maior ameaça internacional aos Estados Unidos”.
O plano do democrata é utilizar a OTAN para enfrentar a Rússia na Europa Oriental e desafiar suas alianças com Irã e Síria, no Oriente Médio. Biden tem defendido aumentar as sanções contra o Kremlin como punição pela anexação da Crimeia, pelo apoio aos separatistas na Ucrânia e por orquestrar ataques cibernéticos contra os EUA.
Ao mesmo tempo, ele promete ação diplomática para afastar Putin de Beijing, retomando, por exemplo, as negociações pela limitação de mísseis nucleares, o New Start Treaty.
A gestão Biden espera “utilizar a desconfiança que China e Rússia guardam uma da outra para separar as duas superpotências – semelhante ao que Nixon fez com sua abertura para a China há quase 50 anos, mas ao contrário”. Independentemente do quanto se aposte no sucesso dessas manobras, a manutenção da hegemonia imperial permanece o objetivo central.
As tarefas dos socialistas na crescente rivalidade interimperial
Assim, o mais novo morador da Casa Branca promete uma política externa agressiva e intervencionista. Como o articulista sênior da revista Forbes concluiu, “uma gestão Biden seria mais favorável à utilização do poder militar dos EUA no exterior do que o presidente Trump tem sido”.
Se a rivalidade China-EUA irá crescer, há contra tendências que devem frear um conflito militar aberto. A profunda integração das duas economias persiste, tornando a guerra um risco para ambos. Além disso, qualquer conflito poderia disparar uma guerra nuclear, o que nenhuma dos Estados está disposto a enfrentar.
Em decorrência disso, a disputa será expressa principalmente na competição diplomática e em guerras por procuração. Ainda assim, há vários focos de tensão que poderiam disparar uma guerra, especialmente Taiwan e o Mar do Sul da China, mesmo a contragosto das duas potências.
O nacionalismo mobilizado pelos dois rivais também dificultará o recuo em um confronto. E há republicanos belicosos nos EUA e os chamados “lobos guerreiros” na China torcendo pelo enfrentamento.
Nesse contexto, é central que o novo movimento socialista norte-americano, particularmente os Socialistas Democráticos da América (DSA), mantenha uma política anti-imperialista clara e principista, opondo-se aos esforços de Biden para reforçar o domínio dos Estados Unidos.
Em particular, não podemos nos deixar levar pela tentativa de Biden de unir um programa de criação de empregos em setores de alta tecnologia à reestruturação do poder militar para fazer frente à China. Ao invés disso, devemos exigir cortes maciços dos investimentos no complexo militar-industrial e usar o dinheiro economizado para criar empregos e financiar um New Deal Verde.
Mantendo a luta contra o imperialismo norte-americano, também não podemos apoiar seus rivais, especialmente China e Rússia. Enquanto potências imperialistas menores, esses países não são menos predadores, exploradores e opressores. Nossa solidariedade deve se direcionar ao proletariado e os povos oprimidos de todas as nações em sua luta pela libertação desde baixo, pouco importando contra qual potência estejam lutando.
Nesses processos, devemos apoiar as forças progressistas e socialistas. É apenas unindo nossas lutas em todo o mundo por democracia, igualdade e socialismo que a classe trabalhadora e os oprimidos podem construir um novo mundo que coloque as pessoas e o meio ambiente em primeiro lugar.
*Publicado em 29 de dezembro de 2020 pela Tempest Magazine https://www.tempestmag.org/2020/12/the-empire-strikes-back/



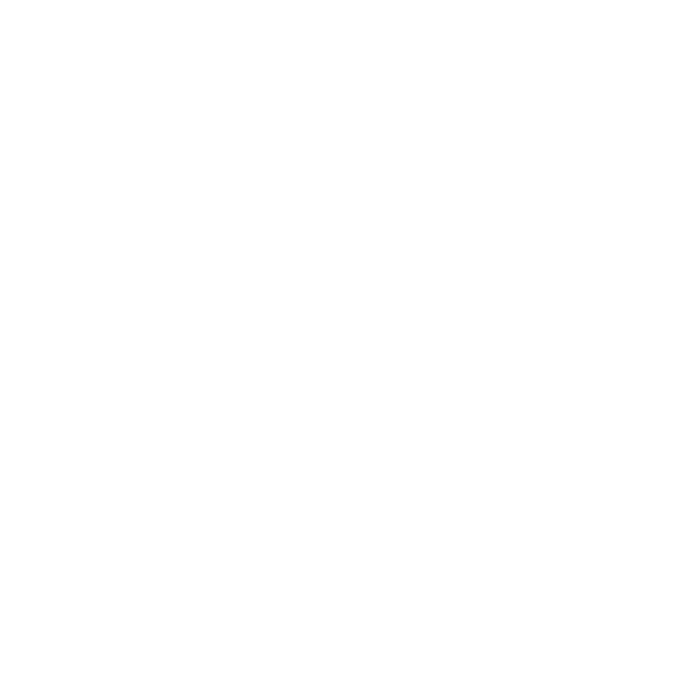
Comentários