“Assim, de um lado deve existir a disponibilidade perpétua para o labor, facilitada pela expansão do trabalho on-line e dos “aplicativos”, que tornam invisíveis as grandes corporações globais que comandam o mundo financeiro e dos negócios. De outro, expande-se a praga da precariedade total, que surrupia ainda mais os direitos vigentes. Se essa lógica não for radicalmente confrontada e obstada, os novos proletários dos serviços se encontrarão entre uma realidade triste e outra trágica: oscilarão entre o desemprego completo e, na melhor das hipóteses, a disponibilidade para tentar obter o privilégio da servidão.”
(“O Privilégio da Servidão: Novo Proletariado de Serviços na era Digital”, p.39)
No livro-compilação de artigos de Ricardo Antunes lançado pela Boitempo em 2018, o sociólogo esquadrinha a “nova morfologia do trabalho” buscando compreender as relações de trabalho da classe trabalhadora (ampliada) na atualidade. Seu debate remete ao filósofo austro-francês André Gorz e os debates sobre o fim do trabalho, “moda” – ou delírio eurocêntrico? – que nunca pareceu adequada aos países da periferia do capital. Ao contrário de uma suposta retração do trabalho – logo a invalidade das teorias que pensam suas “leis” e centralidade social -, o capital avança na atualidade ampliando seus mecanismos de funcionamento e incorporando novas formas de geração de trabalho excedente. Terceirização, informalidade, pejotização, teletrabalho (home-office), freelancer, “zero hour contract”, uberização… O capital na era informacional-digital espraia sua apropriação de mais-valor em diversas modalidades, marcadas pela precarização e intermitência do trabalho, pela mediação das TICs (empresas que usam a tecnologia de informação, como as via aplicativo), uma engenhosa forma de escravidão digital em pleno século XXI.Antunes lembra ainda que o debate sobre a classe média é complexo e se define na tradição marxista por uma posição “relacional”. A ideologia pode querer convencer que somos “colaboradores”, “franquiados”, “autônomos”, mas nada mais distante das modalidades de trabalho intelectual que particulariza as classes médias do que os trabalhos desempenhados nos setores de serviços como call-centers, indústria de softwares e TICs, hotelaria, shopping centers, hipermercados, redes de fast-food, grande comércio, etc. Aqui a tendência de assalariamento, proletarização e mercadorização aproximam e conformam o que seria o “novo proletariado de serviços na era digital”.
É sobre essa nova morfologia do trabalho que Ken Loach fala em seu novo filme “Você não estava aqui” (We Sorry Missed You). Diretor inglês octogenário, com carreira iniciada na década de 60, passando por trabalhos na TV, desde a década de 1980 mantém-se atual e atuante com lançamentos quase anuais de ficções e documentários. Os temas de seus filmes diversificam-se entre a história do Reino Unido e suas nacionalidades – Ventos da Liberdade(2006), Jimmy’s Hill (2014) -, lutas revolucionárias – Terra e Liberdade (1995), Uma Canção para Carla (1997) – a luta e a organização dos trabalhadores, em especial os imigrantes – Pão e Rosas (2000) – e nos últimos a reflexão sobre o desmantelamento das políticas públicas e do Estado social na Europa – Eu, Daniel Blake (2016).Se os temas são diversos, seu “realismo social” apresenta como norte o olhar sobre as condições econômicas e políticas da classe trabalhadora a partir de histórias cotidianas e íntimas. Os dilemas entre camaradas, familiares, amigos ou amantes, se encadeiam as condições e determinações da sociedade no geral e da “cultura”, assim como e experiência política das classes naquele momento. O caráter e as escolhas de seus personagens, assim como o encadeamento de suas narrativas, nunca dizem respeito somente a dilemas particularizados, entretanto, assim como na vida, as escolhas visitadas fazem-se junto à vivência afetiva e íntima do indivíduo diante das múltiplas determinações sociais.
Loach reflete tais dilemas tanto no cinema, como na vida pública e política. Filiado ao Partido Trabalhista na década de 1960, vive e se posiciona ativamente dos debates da esquerda inglesa, entusiasta da “esquerdização” do Labour nos últimos anos. Em 2016, ano de lançamento do aclamado “Eu, Daniel Blake”, embalou declarações de apoio à Corbyn e seu programa, criticando a acomodação do partido e de seus “caciques” Blair e Brown. Nesse mesmo ano seu documentário “In Conversation with Jeremy Corbyn” acompanhou o lider trabalhista em debates com a base partidária, momento de vitória eleitoral no ano seguinte para o Labour. Já nas eleições de 2019, diante do pior resultado desde 1935, o Loach aponta em entrevistas os “erros táticos” e uma autocrítica ao partido – ainda que tímida – sobre a neutralidade diante do Brexit.
É nesse contexto no fim de 2019 que “Você não estava aqui” foi lançado internacionalmente e agora chega aos cinemas brasileiros. O filme conta a história de uma família que vive um crescente endividamento e empobrecimento, em meio a baixos salários e trabalhos “por conta própria” que consomem todo seu tempo e energia. O filme inicia-se com Ricky (Kris Hitchen) procurando apoio financeiro e pessoal de sua companheira Abbie (Debbie Honeywood) para abrir uma franquia, que supostamente é seu próprio negócio.
Um filme de fotografia sóbria, clara. Sem trilha sonora ou grandes apelos estilísticos. Se a indeterminação da tomada pelo mundo é pouca e os diálogos são muitos – e esse tem sido um dos pontos de crítica ao filme – a aposta me parece ser um realismo seco, cru. Em um mundo de trabalho precário e uberizado e um estado descompromissado com a assistência social mínima, o realismo de Loach busca sua atualidade em uma câmera que observa a uma distância segura as relações cotidianas e se demonstra potente e cruel. Uma vez que a realidade a nossa frente é cruel, percebê-la também é – pode ser, dirão os mais pessimistas – potência.E seu olhar para o cotidiano é através de personagens que caminham, enfrentam dificuldades, e buscam se realizar. Mas já calejados, a busca não é uma vibração diante do “empreendedorismo”, mas o senso prático de quem quer o melhor para a família. O discurso do dominador vem antes na figura do encarregado Henry (Charlie Richmond), que habita o meio do caminho, organizando a exploração e buscando ganhar nas beiradas dos que nunca aparecem.
Ricky convence a esposa Abbie a vender seu carro e investirem em uma franquia, sonhando a melhoria da vida financeira.Animado com o novo emprego, faz e vive gentilezas em suas entregas. Mas a engrenagem das metas não se importa, e aos poucos ele passa a não se importar.Em Abbie o sentido prático e humano também se demonstra cotidianamente. Trabalha como cuidadora (care) visitando dezenas de pessoas em domicílio diariamente, buscando tratar as pessoas como se fosse sua mãe, e não clientes. Perde seu “tempo livre” e seu dia de folga com a família se é preciso. Possui traumas familiares que lhe são caros quando a violência de Ricky aparece. Já o filho do casal, Seb (Rhys Stone), ensaia rebeldia e ser um “outsider”, denunciando a falsidade de um modelo social e de vida esgotado, mas – como também é próprio da idade – o faz com arrogância, desmoralizando as tentativas do pai de melhorar a condição da família.
Já Liza (Katie Proctor), que apesar da pouca idade é responsável e positiva, protagoniza uma das cenas mais interessantes do filme, quando auxilia o pai a trabalhar no fim de semana, transformando a correria das entregas em uma brincadeira. Interessante, pois lembra que o trabalho não se mostra no cotidiano apenas como face cruel e alienante, mas está envolto nos afetos, experiências e complexas significações que construímos. Sequência interessante, pois guarda no sorriso de felicidade de finalmente estar algumas horas com o pai a dura verdade de que apenas não interrompendo seu trabalho é possível estar com ele. Mas o sistema não perdoa e o encarregado lembra ao pai que não é permitido trabalhar acompanhado. Nesse sentido, “Você não estava aqui” é um filme também sobre como a ausência pode gerar e acirrar conflitos afetivos. Se o contexto dos “recados de ausência”nas entregas de RIchy aproximam a tradução de “Sorry, We Missed You” para “Nós não o encontramos”, a tradução para “Você não estava aqui” pode ser visto também como uma camada de significação que diz respeito a ausência dos pais, denunciado tempo da vida familiar e afetiva totalmente dominado pelo trabalho na era digital.
Afeto e indiferença. Solidariedade e violência. Tais momentos se constroem na trama pessoal e profissional em conexão com as condições gerais de vida, relembrando a profunda ligação entre o trabalho e nossos modos de vida. Mas no mundo do capital há tendências e contradições irresolutas. A balança pende e lembra-nos que a precariedade do trabalho também é a precariedade da vida e das relações interpessoais. A violência entre pai e filho vem ao primeiro plano. Já não há possibilidade de carinho entre o casal. Apesar de responsável, Liza desmorona quando a crise da família se acirra, lembrando que se trata de uma criança e não é dali que virá as respostas e resoluções. Mas se há exaltação, não há histeria. O sentimento de “fazer o que deve ser feito” vigora. Só é possível parar de correr se alguém o substituir – ouve Ricky quando pede alguns dias de folga. Todos são substituíveis, e na “era digital” somos responsabilizados se não encontramos um substituto para movimentar o capital.
E por isso, o realismo “cru” sem redenção de “Você não estava aqui” é antes de tudo sobre como o trabalho precário também é a precarização – e alienação – da vida. É sobre isso que o filme fala quando uma cliente de Abbie compartilha suas antigas fotos e pede para que sua cuidadora mostre as que trouxe. Por um instante a senhora reflete se não está fazendo algo errado e pergunta se tudo bem para Abbie. Cliente e trabalhador já não sabem quais são as regras ou como negociar a relação de trabalho – assim como as de afeto – regras presentes nos termos de contrato que não as pertence. A terceirização faz-se na vida.
“Você não estava aqui” também nos lembra de que a história da família Turner é parte da história da classe trabalhadora em meio à “era digital”. Molly, cliente de Abbie, conta a ela através das fotos sobre o tamanho da fome dos trabalhadores que chegavam a um encontro que organizava durante as grandes greves dos mineiros de 1984. O fechamento das minas, a desindustrialização e desemprego e o desmonte do estado no governo de Margareth Thatcher é visitado a partir de uma pequena anedota. Uma antiga ativista sindical une o passado – e suas lutas – e o presente – fase melancólica? – da classe trabalhadora a partir da dimensão concreta de sua experiência.
E se há pouco sobre futuro, é nesse mesmo passado que o filme ancora suas saídas. Se Richyat é a última sequência “faz o que precisa ser feito”– para que o capital não pare –, seu filho adolescente, na janela da partida confessa que queria que as coisas voltassem a ser como eram. De forma imediata, Seb fala sobre a presença física e afetiva de seu pai. Loach nos fala sobre o Estado de bem-estar social e um mundo do trabalho distante, de greves mineiras e lutas operárias. Romantismo, derrotismo, pessimismo da razão? Talvez um pouco de cada. Mas se em terras brasileiras esse retorno não é possível, uma vez que não houve Estado social – e não confundamos isso com a pouca cidadania das políticas sociais progressivas – Loach não deixa de estar falando sobre o que Antunes define como a classe-que-vive-do-trabalho. Um realismo cru sobre o penoso e alienante mundo do trabalho em dias de privilégio da servidão.



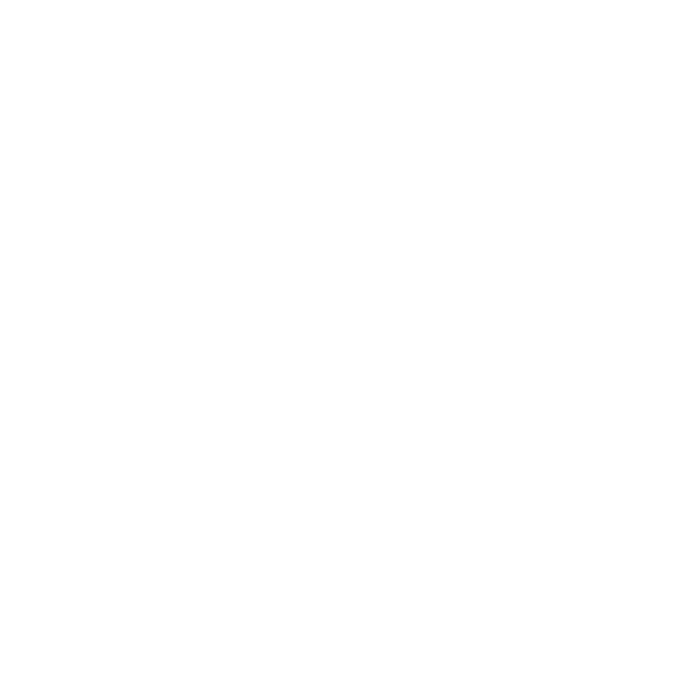
Comentários