No aperto do perigo, conhece-se o amigo.
Ofende os bons quem poupa os maus.
Sabedoria popular portuguesa
A posse de Bolsonaro, na primeira semana de janeiro, coloca a esquerda brasileira diante de um incontornável debate de estratégia. Devemos aceitar que a extrema direita conquistou o direito de governar e esperar, pacientemente, as próximas eleições presidenciais em 2022, fazendo uma oposição testemunhal e retórica através dos deputados no Congresso Nacional?
Ou devemos construir uma resistência nos movimentos sociais para, através da ação direta, da mobilização popular, tentar impedir que Bolsonaro destrua a previdência social, a educação pública, o SUS, acelere as privatizações e desnacionalização da economia, e imponha um padrão de exploração “asiático” à classe trabalhadora?
Diferenças de estratégia não são nuances táticas. Não são divergências de matiz. A estratégia define objetivos de médio e longo prazo, e deve estar ao serviço de um programa. A estratégia orienta as táticas.
A luta política é uma luta de organizações, e de lideranças que são porta-vozes destes partidos, que representam interesses de classe, e se expressam em programas. Existem na esquerda brasileira distintas percepções de quais são os grandes problemas emergenciais que devem ser resolvidos para transformar a sociedade. Destas análises decorrem variados programas. Isso é normal.
Mas a estratégia é uma linha geral de ação diante da luta contra o governo. Diante das diferenças de estratégia no campo dos partidos que se situam em oposição a Bolsonaro é inexorável que haja uma disputa pela liderança da oposição.
Ciro Gomes, por exemplo, já se reposicionou estrategicamente. Esclareceu que não considera Bolsonaro uma ameaça às liberdades democráticas. Isso significa que a oposição que pretende liderar tem como estratégia marcar posição dentro do Congresso Nacional, e aguardar os próximos quatro anos até que ocorram novas eleições. Mas significa, também, não tentar se apoiar na mobilização popular para, pelo menos, tentar impedir que Bolsonaro, Paulo Guedes e Sergio Moro levem adiante o programa de choque que defendem.
Neste contexto, qual deve ser a estratégia da esquerda? Uma boa forma de refletirmos sobre este dilema é estudar as lições que a história nos deixou. Duas estratégias estiveram em confronto e dividiram a esquerda brasileira entre 1979 e 1984.
A acumulação de forças na fase final da luta contra a ditadura foi, a partir de 1979, um processo ascendente, embora com fluxos e refluxos. A luta contra a ditadura passou pela campanha pela anistia e pelas liberdades democráticas. Elas se desenvolveram tanto nos espaços limitados da institucionalidade, através da legenda legal do MDB, como na ação direta, pelo movimento estudantil, pelos movimentos populares contra a carestia e, sobretudo, no movimento sindical.
Naquela conjuntura, o PCB, que ainda era o maior partido da esquerda, defendia a construção de uma Frente democrática com um programa liberal, aceitando a direção do MDB de Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e FHC. O programa da Frente tinha que ser liberal porque este era o denominador comum de uma Frente policlassista. O MDB estava dividido entre autênticos e moderados, porém, apoiava, ainda que criticamente, o projeto de uma transição lenta e gradual da ala Geisel da ditadura militar, respeitando os limites do calendário eleitoral estabelecido pelo governo Figueiredo/Golbery.
Mas a luta democrática exigia uma estratégia de mobilização popular para abrir o caminho da derrubada da ditadura. Em primeiro lugar, porque era, no mínimo, aventureiro apostar que o governo Figueiredo não iria tentar perpetuar, indefinidamente, o regime. Em segundo luigar por era, no mínimo, irresponsável, renunciar à disputa pela liderança da oposição com o MDB, porque a sua direção não estava comprometida com a derrubada da ditadura. Estava empenhada na negociação das condições da “transição lenta, gradual e segura”.
As greves dos metalúrgicos do ABC, dos professores e bancários de São Paulo e do Rio de Janeiro, e dos petroleiros, entre muitas outras, colocaram em cena a classe trabalhadora. As sequelas da crise econômica – superinflação e recessão econômica – e a disposição de luta da classe deslocaram a maioria da classe média para a oposição à ditadura. A força da classe como sujeito social abriu a possibilidade de construção de um partido de classe com influência de massas, e de uma Central sindical. A existência legal do PT e, em menor medida, do PDT de Brizola, desafiou o lugar que o MDB ocupava na oposição, mas potencializou a preparação da campanha das Diretas.
Confluíram para esta estratégia de luta pela derrubada da ditadura e, em consequência, de construção do PT, uma ferramenta de organização política independente da classe dominante, uma fração do movimento sindical liderada por Lula, uma ala da Igreja católica, uma parcela da esquerda clandestina (AP, MEP, PRC, OSI, Convergência, DS), militantes sobreviventes de organizações que tinham abraçado a luta armada) e alguns intelectuais de inspiração socialista.
Não foi, portanto, somente um acerto tático que tenha sido o PT a iniciar a campanha das Diretas Já, em novembro de 1983, convocando para o Pacaembu, o promeiro grande Ato. Foi um desenlace da escolha estratégica de se posicionar pela derrubada da ditadura, não o apoio à transição negociada.
A campanha das Diretas Já não foi construída por uma suposta Frente Democrática em torno a um programa para o Brasil. Nem esta Frente, nem este programa jamais existiram. Não existiram, entre outras razões, porque o MDB já tinha vencido as eleições para governador em São Paulo, com Franco Montoro, em Minas Gerais com Tancredo Neves, e o PDT no Rio de Janeiro com Leonel Brizola, e o PT não se incorporou a estes governos. Não havia acordo em torno de um programa.
Foi organizada por um comitê de unidade na ação, o Conselho Nacional Pelas Diretas Já, conhecido como CNPD. A unidade tática em torno às iniciativas do CNPD se resumia a uma reivindicação central: a convocação de eleições Diretas, imediatamente, o que passava pela aprovação da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional.
Perdemos essa votação, como se sabe. Entre outras razões, porque o MDB, sob a liderança de Tancredo Neves vetou a convocação de um dia de greve geral para 25 de abril de 1984, proposta apresentada pela CUT presidida por Jair Meneguelli. O MDB não queria derrubar, revolucionariamente, Figueiredo. Queria uma transição por dentro do Colégio Eleitoral, um organismo ilegítimo inventado pela ditadura militar, para evitar uma ruptura institucional com as Forças Armadas.
Que lição nos deixa esse momento extraordinário da história? As diferenças de estratégia são muito importantes. A unidade na ação com todas as forças políticas e sociais, inclusive partidos que representam frações de classe burguesa que venham, eventualmente, a desenvolver dissidências com o governo Bolsonaro é legítima. As possíveis iniciativas de unidade de ação com aquela parcela da oposição a Bolsonaro que Ciro Gomes pretende liderar são necessárias. A esquerda não deve ser obstáculo para esta unidade de ação. Mas a esquerda não pode renunciar à sua estratégia em nome da unidade incondicional da oposição. Ciro Gomes não irá liderar a oposição a Bolsonaro no grito.
O que a esquerda deve construir, de forma independente da burguesia, por iniciativa dos movimentos sociais, das mulheres e dos sindicatos, dos estudantes e dos negros, dos LGBT’s e dos ambientalistas, das Centrais sindicais, com o apoio de PT, PSol e chamando todos os outros partidos da esquerda, como o PCB, PSTU e PCdB, é uma Frente única de classe em torno a um programa de resistência, que será a bandeira com a qual voltaremos às ruas.



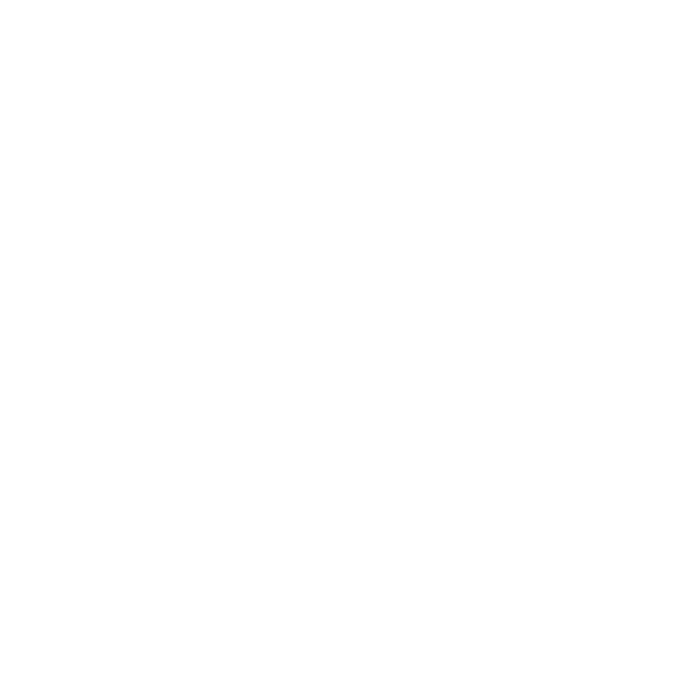
Comentários