Barata sabida não atravessa galinheiro.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não confie na sorte. O triunfo nasce da luta.
Sabedoria popular brasileira
Estamos diante de muita pressão por uma candidatura única de esquerda. Um mais um em política não é igual a dois. A esquerda deve ter a lucidez de se unir contra os inimigos comuns. Sim, há uniões que fortalecem, como a Frente Única contra os fascistas. Ou a Frente Única contra Temer. Ou a Frente Única pelo direito de Lula ser candidato.
Mas uma frente eleitoral exige muito mais do que a disposição de lutar contra inimigos comuns. Exige, também, para se credenciar, seriamente, como uma alternativa algo mais, algo além do que somente a formulação de um programa no papel. A aliança em torno de Boulos/Sonia Guajajara ganhou o direito de se candidatar nas horas decisivas da luta de classes dos últimos cinco anos. Ganhou legitimidade nas ruas em junho de 2013, e na luta contra o impeachment. Alguns na esquerda estiveram muito bem em Junho de 2013, como o PSTU e outras forças na esquerda. Mas se posicionaram muito mal na luta contra o golpe em 2016. Outros, como a maioria do PT, fizeram as escolhas inversas, mas não menos graves.
Uma Frente eleitoral é de natureza distinta do que uma frente única para lutar por objetivos específicos, porque exige um programa. Não pode ser construída somente contra os inimigos comuns, ou reivindicações parciais. O programa eleitoral não pode ceder às pressões possibilistas ou às tentações maximalistas.
O PT estaria, realmente, disposto a autocríticas do balanco dos treze anos? Alguma autocrítica? O PT estaria disposto a criticar o impacto do tripé macroeconômico que ficou de pé com Palocci, quando estava associado à consultoria de, ninguém menos, que Delfim Netto? E reavaliar a proposta de reforma da previdência defendida por Dilma Rousseff com Joaquim Levy à frente da Fazenda? Algo a dizer sobre as privatizações? Ou sobre as alianças com o agronegócio? Os sobre os compromissos com a governabilidade, via Congresso Nacional? Disposto a defender o fim da Lei de Responsabilidade Fiscal e a busca do superávit fiscal, por exemplo? Disposto a criticar as alianças, com o Centrão por alguns anos, e com o PMDB?
Exigir estas reavaliações seria exigir demais? Seria ultimatismo? Será possível pensar em um futuro para a esquerda sem retirar lições destas experiências? A resposta lúcida, madura, clara, cristalina, incontornável é não. Para o PCdB o caminho para uma coligação com o PT é diferente do que para a Aliança construída pelo Psol. O PCdB participou nos governos Lula e Dilma, porque tinha acordo no fundamental com os programas dos governos Lula e Dilma Rousseff. Durante treze anos não fizeram diferenciação alguma. O PSOL não tinha acordo.
Sejamos sérios. Mantenhamos o respeito. Temos responsabilidades imensas. Aqueles que construímos a candidatura Boulos/Guajajara acreditamos que é preciso incendiar uma nova esperança na esquerda. O Psol foi oposição de esquerda aos governos do PT em função destas e outras diferenças programáticas. Não pensamos que foi errada esta localização estratégica. Além disso, as eleições serão em dois turnos. Como já ficou claro, o Psol é um aliado honesto na luta contra a perseguição ao PT, e Boulos não será um obstáculo para que Lula possa ser candidato.
E honestidade importa. O PT não deveria ser um obstáculo para que Boulos e a Aliança construída pelo Psol possam defender outro programa. Deveria ter grandeza, considerando o lugar do MTST e do PSOL na luta contra o impeachment. O PSOL e o MTST tiveram uma posição de princípios. O PSOl e o MTST estiveram juntos também, ao lado da mídia ninja, nas ruas na Jornadas de Junho, quando o PT estava na prefeitura de São Paulo e no governo em Brasília. A Aliança em torno de Boulos e Sonia Guajajara pode se apresentar diante dos setores organizados dos trabalhadores e da juventude de cabeça erguida. Seu papel será o de chamar à luta os que perderam a esperança. O que é preciso é inflamar o ânimo dos que caíram no desalento. O lugar da esquerda nas eleições é convocar a maioria do povo a confiar na força imbatível de sua mobilização.
Porque a aliança é uma centelha para as mobilizações que virão. Só a luta muda a vida. Será um instrumento útil na luta para tirar Bolsonaro do segundo turno. Será um ponto de apoio para a organização de milhares de ativistas para as lutas que virão. Esta atitude deve se expresser nos critérios para a elaboração do programa.
Um programa eleitoral de esquerda deve ser um programa de mobilização. Um programa eleitoral responde à disputa política. A disputa política é a forma como se debate a luta pelo poder. Ou seja, à questão de quem deve governar, como governar e contra quem governar. Devem ser ideias poderosas para entusiasmar, cativar, incendiar, encantar a rebeldia da juventude e do povo. Devem inspirar que outra vida é possível. O eixo do programa das candidaturas Boulos Guajajara é, corretamente, a luta contra as desigualdades sociais que explicam os dramas que castigam a vida da imensa maioria dos trabalhadores e do povo. As propostas estão centradas na ideia de que sem luta e participação popular não é possível mudar o Brasil.
Não é incomum que se confunda um programa eleitoral com uma plataforma de reivindicações sindicais ou populares. Ou com um programa de gestão do Estado, um programa de governo. Não é nenhum dos dois. Uma plataforma de reivindicações expressa demandas que uma categoria de trabalhadores, como os professores em luta pela valorização salarial, ou um movimento popular, como o de luta pela moradia ou pela terra, apresentam como exigências a um governo de plantão. São reivindicações específicas. Mas, mesmo quando são reivindicações unitárias, uma plataforma de reivindicações tem uma natureza distinta de um programa eleitoral. No ano passado, por exemplo, o repúdio às propostas de Reforma da Previdência foi o combustível para a realização de uma das maiores greves gerais desde os anos oitenta. Essa plataforma de reivindicações tinha o objetivo de construir uma frente única para a ação. Ela tinha de ser um denominador comum que alicerçava a frente única das Centrais Sindicais (CUT. Força Sindical, Nova Central, CTB, CSP/Conlutas, e outras) e movimentos sociais. Nas eleições, cada partido apresenta as suas propostas. O papel da Aliança PSOL/PCB e movimentos sociais é apresentar as suas próprias propostas.
A elaboração do programa eleitoral deve estar contextualizada por uma análise de quais são os problemas mais graves que afetam os trabalhadores e o povo. Mas está condicionado por uma análise da conjuntura política. As condições impostas pela conjuntura adversa contam. Senão, o programa eleitoral seria, essencialmente, sempre o mesmo, não importando se as eleições vão ocorrer em 1998, 2028, ou em 2018. Somos socialistas, e devemos defender a necessidade do socialismo nas eleições. Seria, politicamente, desonesto e, de resto, absurdo, esconder nossa identidade programática, nosso projeto histórico. Mas a defesa do socialismo ou da revolução não é, em si e só por si, um programa eleitoral. Não podemos concorrer no Brasil com o programa da Comuna de Paris de 1871. Nosso programa eleitoral deve reconhecer as condições em que a disputa se realiza. Estas condições são, fundamentalmente, duas: depois do golpe parlamentar-institucional de 2016, e na sequência de treze anos de governos de conciliação sob a liderança do PT. Diminuir o impacto das terríveis sequelas originadas pelo golpe nos deixaria separados da experiência prática de dezenas de milhões que estão vendo suas vidas piorarem dia a dia dese o impeachment de Dilma Rousseff. Desconhecer o balanço dos treze anos de governos liderados pelo PT nos deslegitimaria como uma nova alternativa de esquerda.
O programa eleitoral deve identificar contra quem lutamos e nossa decisão de derrotá-los. Grandes mobilizações de massas não se movem apenas por indignação ou pela percepção da injustiça. Precisamos, também, de ter gente ativa que acredita que pode ganhar, mesmo que sejam vitórias parciais. A perspectiva de que vitórias são possíveis importa. Por mais modestas, por mais pequenas, por mais invisíveis que possam parecer, essas vitórias semeiam uma disposição por mais mobilização do que todos os “apelos à resistência”. Diminuir o drama da vida das pessoas com ligeireza é de uma rigidez doutrinária imperdoável. Propostas sérias não são o mesmo, e não podem ser reduzidas a propostas “viáveis”. Propostas sérias devem ser concretas. Propostas sérias devem ser iniciativas pelas quais vale a pena lutar. Propostas “viáveis” é uma fórmula que desconsidera que a primeira responsabilidade de uma esquerda radical é demonstrar que é preciso mudar as condições da luta política. Uma esquerda que não é útil é inofensiva. Uma esquerda útil deve ser perigosa.
Um programa eleitoral não precisa ser, também, um programa de gestão. Um programa de gestão precisa considerar incontáveis fatores, entre eles, o tempo. Fantasiar que um partido de esquerda ao chegar ao poder poderia fazer o que quisesse seria infantil e tolo. O que fazer, imediatamente, para garantir que o governo não seja derrubado? Como construir as condições de médio prazo para tomar tais ou quais medidas? Imaginar que se possa, por antecipação, encontrar todas as soluções, desconhecendo os inimigos e suas iniciativas, é ingênuo e doutrinário. Não há fórmulas universais pré-estabelecidas para enfrentar as forças reacionárias. A não ser um critério que passou a prova no laboratório da história: não é possível lutar pela transformação da sociedade sem despertar a fúria contrarrevolucionária da classe dominante.
Imagem: kandisnky 1911



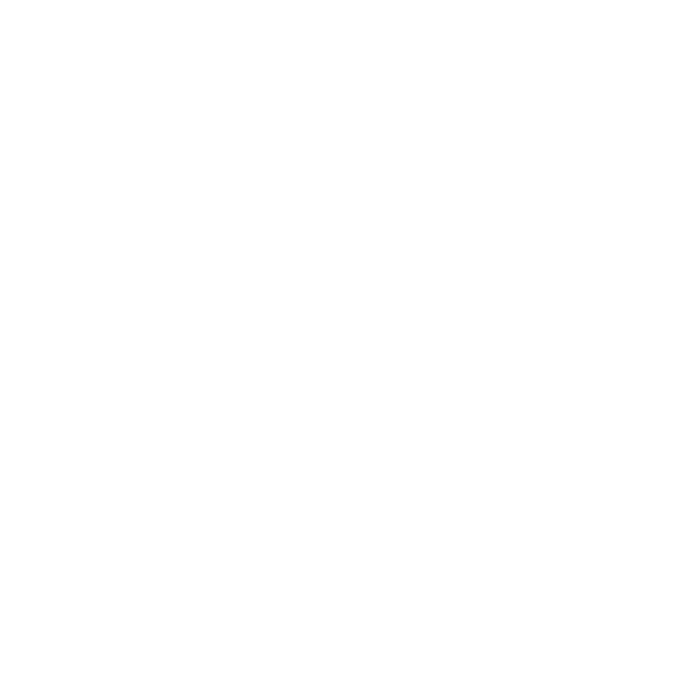
Comentários