Por: Alexandre Velden e Filipe Völz, do Rio de Janeiro, RJ
*Informações sobre a peça e a companhia em Pé de Cabra Coletivo
“Eu quero te mostrar uma coisa que é metade real e metade outra coisa”
Após um longo período de investigações e experiências, da sala de ensaio às ruas do Centro do Rio de Janeiro, em meio a debates e oficinas, ensaiando na sede do #MAISCarioca ao Sindipetro-RJ, a peça teatral “O trabalho que (não) é sonho” ganha vida em uma curta temporada nesse mês de abril, no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo-RJ. O segundo espetáculo do Pé de Cabra Coletivo investiga criticamente as relações de trabalho no campo artístico brasileiro através de um grupo de teatro fictício que desenvolve uma pesquisa cênica experimental. Diante da precarização profissional e da mercantilização das atividades artísticas, a companhia depara-se com as dificuldades materiais de produção e as barreiras ideológicas do próprio aparelho cultural. Remando contra a maré, a necessidade organizativa, para além dos limites do próprio teatro, mostra-se fundamental, mas não menos complicada. Valendo-se das perspectivas épico-dialéticas, a montagem aborda poeticamente os limites e a potência da representação cênica no cenário político atual.
A companhia Pé de Cabra Coletivo investiga a relação entre estética e política, trabalhando fundamentalmente com as referências do teatro épico dialético brechtiano e experiências/pesquisas do teatro político brasileiro, mais detidamente com o Teatro de Arena-SP e a Companhia do Latão. Além da criação de peças a cia teatral promove o ciclo de debates Prosas Teatrais, realiza oficinas e estudos de Artes da Cena e política e participou de ações em parceria com a Escola de Teatro Popular-RJ. O Pé de Cabra Coletivo convida todos a conhecer o seu novo espetáculo e tem o prazer de compartilhar os comentários de um companheiro de luta, critica e criação, política e artística:
Quando o trabalho (não) dorme – Ensaio de crítica para a peça O Trabalho Que (Não) É Sonho
Por Filipe Völz, professor de filosofia da UFRJ, editor da A! (http://revista-a.org/) e militantes da NOS
Trabalhar é, possivelmente, a pior coisa que existe. Atendentes atrás de bancadas, professores na frente de alunos, os dois braços rijos do motorista no volante: cinco ou mais dias na semana, toda a semana, todo o mês, sempre, sempre, mais uma vez, outra vez, de novo. Não bastasse a repetição física, a finalidade é também cíclica: nós trabalhamos para viver e viver significa, quase sempre, trabalhar. Quando não é trabalho, às vezes é lazer. E a questão da peça parece ser: o que acontece com quem trabalha com o sonho, o vazio de trabalho que é a arte e o divertimento?
A peça O Trabalho Que (Não) É Sonho, do Pé de Cabra Coletivo , está em cartaz no Teatro Laurinda Santos Lobo, com uma última apresentação no dia 28, próximo sábado, o dia da semana em que, como se sabe, o próprio Criador descansou.
O fim de semana costuma ser o “lugar da arte”. Na sexta a noite Deus contemplou sua obra, possivelmente como se fosse um quadro ou uma peça. Se me é permitido uma definição curta do que é a arte, eu diria que a arte é aquilo com que nos ocupamos quando não estamos trabalhando. É uma ação dita “desinteressada” que floresce no meio do nada, no espaço vazio que o trabalho cede, por piedade (à alguns). Tem que ter tempo pra fazer e ver arte. Tem que ter tempo pra poder passartempo com a arte.
Mas e quem trabalha com arte? São essas as pessoas em O Trabalho Que (Não) É Sonho, tanto aquelas que não existem quanto aquelas que interpretam no palco essas que não existem. Os atores fazem de conta que são atores. A peça faz de conta que é uma peça.
Vou usar uma metáfora ousada: quando um acelerador de partículas separa as moléculas, ele procura simular as condições em que moléculas estão submetidas a forças quase irresistíveis. Ele simula – faz de conta – essas condições. Quando um cientista realiza um experimento, ele inventa um acontecimento natural, o reproduz artificialmente. Mas, afinal, as partículas não foram de fato separadas? Ao inventar, com o simples objetivo de comprovar ou refutar teorias, o cientista não acaba criando? Para testar a bomba H foi necessário explodi-la no Álamo.
O Trabalho Que (Não) É Sonho é obrigado a explodir sua bomba específica, realizando um experimento bretchiano – e Brecht gostava de cientistas, em especial Galileu. Tem um termo comum pra isso, “arte experimental”, que costuma ser um espantalho – um termo usado para espantar público. Mas o próprio Brecht é explícito em dizer que o teatro deve divertir, não apenas divertir, mas por certo, sempre, de alguma maneira, ser divertido. A diversão é condição para o experimento. Sem ela, permanecemos atentos demais, e é impossível fazer de conta. Bretch não é o dramaturgo do distanciamento – mas, sim, da dialética entre distanciamento e aproximação.
O Trabalho Que (Não) É Sonho é experimental e por isso é divertido. As canções são lindas. Canção em teatro é uma coisa linda. Eu sempre fico fascinado quando as pessoas do nada param de falar e começam a cantar. Os personagens estão vivos, pois são “profundos”, não como um oceano, mas como a cartola de um mágico, de onde ele tira lenços infinitos e animais silvestres. Há empatia na peça e é ela o óleo que lubrifica os motores da máquina que realiza esse experimento. Mas qual é a teoria que ele visa comprovar? Seria o marxismo?
Vejamos: a peça tem direção de Bruno Marcos e dramaturgia dele e de Natália Conti, mas a criação é plural, pois foi feita coletivamente, e por isso tem a cara de muita gente e ao mesmo tempo “cara nenhuma”, nenhuma ultra-marca autoral, nenhuma assinatura com o próprio sangue. Seria outra espécie de assinatura. É a mesma que encontramos quando vemos dois motoristas de ônibus conversando entre si, cada um de dentro dos seus ônibus, aos berros – uma cena cotidiana. Quem dirigiu a cena? Se foi sábado, sabemos que não foi Deus, que descansava. Digamos que é sábado. Quem pensou essa cena “felliniana”?
Ninguém pensou. É essa a assinatura anônima/coletiva da peça. Uma empatia que não se esgota no talento, essa centelha de milagre dentro da alminha do autor. Uma empatia que não se esgota, afinal. Que é formada por nós mesmos, que observamos cenas não como agentes receptivos do talento externo e distante, mas como participantes ativos da sua própria beleza. Hegel dizia que quando observamos a beleza do pôr do sol não estamos admirando o astro, mas sim nós mesmos o admirando. Nos maravilhamos com o fato de nos maravilharmos com coisas.
É essa “a coisa” sobre criações coletivas: elas começam nos criadores da peça, mas se propagam em todo mundo que vê. É essa “a coisa” sobre criações coletivas: elas são sempre infinitamente coletivas, como os lenços da cartola, como a força irresistível gerada pelo peteleco na primeira peça de dominó. O autoral-individual se propaga em infinitos indivíduos separados, como um eco; o autoral-coletivo aumenta a si mesmo, como uma explosão. Qual é a teoria que ela quer comprovar?
Essa é “a coisa” sobre arte: uma prática que quer comprovar a si mesma. A bomba explode pra poder comprovar que a bomba pode explodir. A grande arte pode ser produzida coletivamente? Vejamos: a produzamos coletivamente. Está pronta? Existe, então. A questão não era, afinal, se a arte podia ou não ser produzida coletivamente, mas, sim, por que razão vocês ainda não começaram a fazê-la.
***
Gostaria de destacar alguns pontos da peça e de sua produção.
· Para falar sobre o trabalho com arte no Brasil, e em especial no Rio, o coletivo foi aos artistas de rua, aos que vivem do trabalho da arte, buscar os elementos para compor cenas e personagens. É essa “a coisa” sobre criações coletivas: elas são sempre mais numerosas do que apenas as pessoas com os nomes nos créditos. É uma espécie de “lugar de fala” eminentemente marxista: para falar sobre o coletivo é necessário ser coletivo – deixar a coletividade falar por si mesma.
· Todo mundo está falando em uma volta da ditadura e do clima político dos anos 60. Se há um lado bom nisso, está na arte. O número de coletivos artísticos atuais não é pequeno, e isso tem ligação direta com a muito bem-vinda politização atual da arte. O teatro dos anos 60, com seu viés político claro e o auxilio luxuoso das canções da ainda jovem MPB, está voltando. Essa peça tem um peso enorme nisso. E a qualidade das canções é o que me leva instintivamente a dizê-lo. É uma parte central da própria dramaturgia. Nota-se isso pela impossibilidade de conceber essa peça sem as canções.
· A trilha instrumental acompanha as cenas de modo a torná-las cenas “intuitivas” ou “corporais”, com muito do cinema de Chaplin e Keaton (que vinham do teatro e circo). A trilha “gruda” na cena, ao invés de acompanhá-la como um cachorro na coleira.
· Eu tive a impressão de que o sentimento fundamental da peça é o cansaço, não o cansaço existencialista, que a gente dá o nome de tédio, mas o cansaço do trabalho, com aquele tom de desespero. Os atores interpretam esse cansaço tão bem (por que será?) que parece, só pelas expressões, que emagreceram. O figurino uniformizado, como o de um hospício, ajuda a dar um certo aspecto doentio à coisa toda. São corpos que o trabalho mastigou.
· Trabalhar é, possivelmente, a pior coisa que existe. Atendentes atrás de bancadas, professores na frente de alunos, os dois braços rijos do motorista no volante: cinco ou mais dias na semana, toda a semana, todo o mês, sempre, sempre, mais uma vez, outra vez, de novo. Não bastasse a repetição física, a finalidade é também cíclica: nós trabalhamos para viver e viver significa, quase sempre, trabalhar. Quando não é trabalho às vezes é lazer. E a questão da peça parece ser: o que acontece com quem trabalha com o sonho, o vazio de trabalho que é a arte e o divertimento?
· O coletivo teve a grande ajuda do Sindipetro e do MAIS, cedendo um valioso espaço para os ensaios. Isso reflete um interesse da peça em se comunicar com um público para além do público do teatro, um interesse que possui um claro viés político. Isso significaria também levar a peça, depois dessa temporada, para um espaço além do espaço do teatro?
· A peça é dividia em esquetes, o que dá alguma agilidade episódica, mas algumas cenas se estendem um pouco além do que esse ritmo rápido pede, gerando alguma sensação de lentidão que poderia ser suprimida com a redução do tempo dessas cenas. É claro que essa quebra de ritmo tem tudo a ver com o distanciamento brechtiano – mas isso não me levaria a desdizer a minha episódica crítica e sim a estendê-la ao próprio Brecht (com toda a humildade)…
· Todos os atores estão excelentes e o são não pela soma de seus talentos individuais, mas sim porque funcionam bem juntos. Só gostaria de destacar o ator Luiz Barreto, excelente em cena, fazendo o personagem que para mim foi mais interessante, um ator fatalista, cínico e, sobretudo, exausto, sempre exausto, já nascendo exausto em sua fantasia de Bob Esponja de Uruguaiana.
· Os dois músicos, Alexandre Vander Velden e Dieymes Pechincha (que incrivelmente faz ao mesmo tempo a iluminação) executam com sobriedade, exatidão e ao mesmo tempo vivacidade as canções e trilhas.
· A peça é estruturalmente simples, mas tudo é bem arranjado e coeso, de modo que a produção tem um tom grande, épico, volumoso. Ao mesmo tempo não tem o caráter “esterelizado” que as peças do mainstream costumam ter. Poderia estar em cartaz em qualquer teatro do Rio.
SERVIÇO
PEÇA: “O trabalho que (não) é sonho”
Última apresentação esse sábado (28), no teatro Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa, RJ, às 19h30
Foto: Julia Gabriela | Divulgação



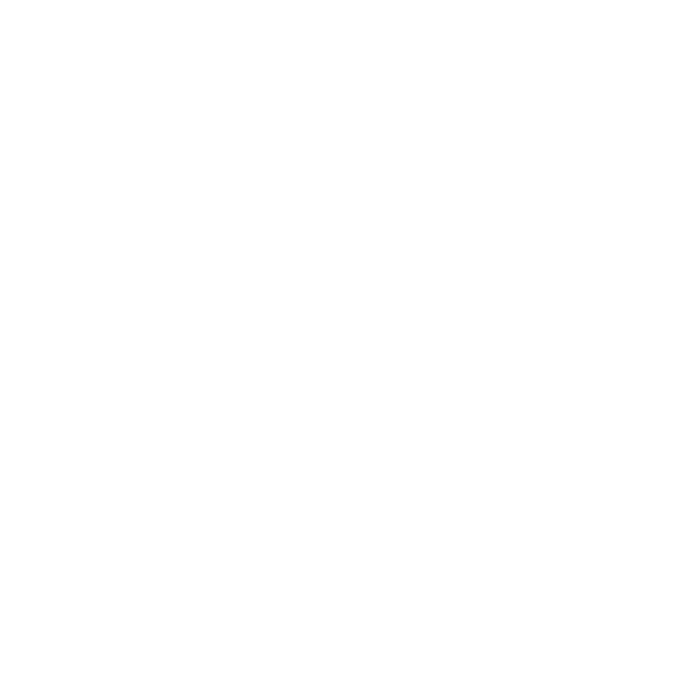
Comentários