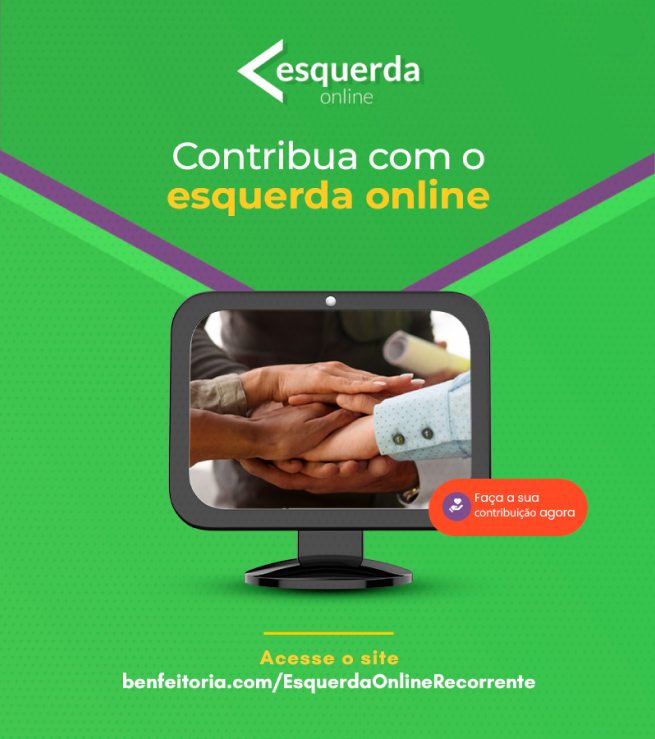Maria Filó e a homenagem a Debret: naturalização da escravidão negra
Publicado em: 2 de novembro de 2016
Visitando Ouro Preto, conhecendo as minas desativadas, subindo e descendo as ladeiras, ingressando em suas senzalas, é possível, ao mesmo tempo, proferir cantos de lamento e arrepiar-se com tantos outros, inaudíveis, mas solidamente presentes.
Aquela cidade, como algumas outras centenárias do Brasil, é um símbolo do período em que a escravidão era legalizada, em que o luxo e a pujança europeia eram sustentados às custas do sangue de gente diferente, porque não dotada dos padrões físicos europeus.
A violência daqueles tempos deixou marcas severas no modo de vida dos povos ao redor do mundo. Os valores consolidados na época, especialmente os ligados à convicção da inferioridade das negras e negros africanos, permeiam a sociedade atual, justificando a sobre-exploração a que determinados grupos estão submetidos.
O cotidiano nos oitocentos admitia que mulheres e homens subjugassem outros seres humanos, destinando a estes últimos o cativeiro e o trabalho forçado até a exaustão. Para negar às negras e negros o domínio sobre os próprios corpos, lucrando com o seu tráfico e apoderando-se da totalidade do produto de seu trabalho, era necessário enquadrá-los no espaço da subalternidade. Até que ponto vivemos outra realidade?
Os capítulos mais desoladores da história da humanidade estão ligados à dominação de uns sobre outros. A tristeza causada por tais episódios intensifica-se ao se perceber que tal dominação nasce a partir da construção de uma ideologia que visa afirmar a inferioridade de um grupo em relação a outro.
Jean-Baptiste Debret, artista francês do século XVIII, não esteve inerte à realidade de seu tempo. Suas obras retratam a realidade das escravas e escravos, o cotidiano de subjugação a que estavam submetidos. Os valores daquela época, entretanto, admitiam com normalidade o domínio de seres humanos por outros, ótica da qual Debret não se afastou. Seus quadros naturalizavam essa exploração, retratando escravas e escravos como ociosos e indolentes.
É por isso que devemos nos revoltar quando ‘Maria Filó’, uma marca de roupas, opta por lançar uma estampa homenageando um artista célebre por retratar negras e negros segundo a ótica racista de seu tempo. Não bastassem todas as críticas que a indústria da moda merecidamente tem recebido, com destaque para “The True Cost”, documentário do netflix que demonstra os efeitos desumanizadores dessa atividade, parte significativa de seu lucro advém da escravidão.
O que interessa a essa atividade econômica, que não foge à regra capitalista de nossos tempos, é aumentar os lucros, criando desejos tão efêmeros quanto as estações do ano. Não importa se para atingirem seus objetivos as marcas necessitam valer-se da escravidão contemporânea, do racismo nas passarelas ou, ainda, se utilizam estampas que propagandeiam a escravidão. Sua principal preocupação é manter a lógica de lançamento das coleções, alimentando o infindável e lucrativo ciclo da moda.
É preciso revolucionar nossas instituições
O sistema de justiça brasileiro não é permeável à presença de negras e negros e, como causa e consequência, não se abre ao debate do racismo em suas instituições. É sintomático que a atual composição étnico-racial da carreira da magistratura brasileira, segundo pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2012, tenha 84,5% de magistradas e magistrados declarados brancos. Apenas 14% se consideram pardas e pardos e 1,4%, pretas e pretos.
Assenta-se na mesma lógica o fato de o presidente da ‘Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra da OAB‘ – ordem dos advogados (e advogadas – nós mulheres não constamos no nome dessa associação profissional, mas compomos SIM os seus quadros) do Brasil – que também compõe o sistema de justiça, não perceber elementos de opressão na veiculação das estampas homenageando Debret.
Não é demais lembrar que as ‘comissões da verdade’ são instrumentos criados na busca da superação do legado de violência a que determinada sociedade foi exposta. As comissões são mecanismos que compõem a chamada Justiça de Transição, formulação teórica que busca garantir a não repetição das atrocidades praticadas contra os direitos humanos. A formulação em referência parte de algumas premissas básicas, dentre as quais o reconhecimento e a publicização do histórico de brutalidade, a indenização econômica dos grupos violentados, a responsabilização criminal das autoras e autores das atrocidades e a reforma das instituições, de forma a fortalecer os valores democráticos no seio social.
A justiça de transição nunca foi levada a sério nesse país que tem todas as formas de violência, inclusive a de raça, imbricada na formação cultural. Como superarmos um passado de subjugação do povo negro se as nossas instituições refletem e reforçam essa realidade? Como sonharmos com a efetivação de um ‘Estado Democrático de Direito’, se assistimos ao aprofundamento do autoritarismo e da exploração de classe, bem como à naturalização das opressões? Precisamos debater o racismo na sociedade brasileira e, como parte do debate, é necessário que admitamos e combatamos o racismo no sistema de justiça, reflexão que deve perpassar os cursos jurídicos, os órgãos que compõem o Poder Judiciário, as funções essenciais à Justiça e as entidades representativas daquelas e daqueles que compõem as referidas instituições.
Top 5 da semana

brasil
Renata Souza é alvo de ameaça de morte e insultos racistas em ano eleitoral
mundo
A Venezuela após 3 de janeiro
brasil
Orçamento, poder e o desmonte das universidades públicas
colunistas
Venezuela e o legado defensista de Trotsky
brasil