Recalcular a rota? O que Zohran Mamdani e a política do comum nos ensinam sobre comunicação e futuro
A vitória do socialista Zohran Mamdani em Nova York não é apenas uma derrota simbólica do trumpismo, mas o sinal de uma nova forma de fazer política pela esquerda, enraizada, popular e radicalmente democrática
Publicado em: 8 de novembro de 2025
As eleições em Nova York, realizadas há poucos dias, ainda reverberam pelo mundo. Não apenas pelo tamanho da cidade ou pela força simbólica de seus resultados, mas porque, ao eleger Zohran Mamdani, os nova-iorquinos deram forma a um acontecimento político que ultrapassa fronteiras. Desde então, análises se multiplicam. Há quem leia essa vitória como um sinal do esgotamento do trumpismo; há quem veja nela apenas um fenômeno local, próprio de uma cidade historicamente mais progressista; e há ainda os que destacam o simbolismo da eleição do primeiro prefeito muçulmano e abertamente socialista da história de Nova York. Todas essas leituras são válidas e necessárias. Nenhuma dá conta sozinha do que está em jogo. Porque a política, como sabemos, nunca se deixa encerrar num único significado.
O que talvez mereça mais atenção neste momento não é apenas o resultado eleitoral, mas o método e a forma como Mamdani construiu sua vitória; o modo como transformou linguagem, estética e afetos em projeto político. Sua ascensão ocorre num contexto de esgotamento do bipartidarismo norte-americano, em que democratas e republicanos já não oferecem respostas novas para um país dividido entre desigualdade, medo e desencanto. Filiado à Democratic Socialists of America (DSA), Mamdani operou nos limites dessa polarização, emergindo como uma força que desafia o sistema sem se colocar fora dele: uma candidatura assumidamente socialista, antiguerra e antissistêmica, que reintroduz a ideia de que é possível reinventar a política a partir de dentro, devolvendo-lhe o caráter coletivo e popular.
O seu antagonismo ao trumpismo não se constrói pela negação, mas pela diferença de forma. Trump e seus herdeiros criaram uma política fundada no medo, na humilhação e na nostalgia de um passado imaginário. Mamdani responde com uma política fundada na escuta, na igualdade e na projeção de futuro. É também um populismo, mas de outra natureza: um populismo de solidariedade e não de ressentimento. Ele não abdica da radicalidade , ao contrário, a desloca. Sua radicalidade não é o grito, mas a insistência; não é o ódio, mas a organização. É o radicalismo do comum, o da vida concreta, o que não precisa da violência para ser transformador.
Zohran Mamdani é filho de imigrantes de Uganda e da Índia, deputado estadual eleito pelo Queens, um dos distritos mais diversos de Nova York. Sua trajetória já contraria o arquétipo do político americano. E sua vitória é ainda mais improvável quando lembramos que ele começou a campanha com apenas 1% nas pesquisas e que, quando venceu as prévias dos Dmeocratas, o establishment partidário, ligado a Kamala, Biden e Obama trataram de não reconhecer a sua liderança. Em vez de apostar no marketing tradicional, com slogans testados em focus groups, optou por caminhar de porta em porta, por falar de aluguel, creches, transporte, saúde e segurança alimentar, aquilo que, em geral, é tratado como assunto “miúdo”, mas que constitui o tecido da vida das pessoas. Ao fazer isso, Mamdani devolveu à política o que ela tem de mais esquecido: o senso de experiência compartilhada.
Quando adversários ridicularizaram seu “savings calculator” — uma ferramenta digital simples que estimava quanto uma família economizaria com o congelamento dos aluguéis, creche universal e transporte gratuito —, Mamdani respondeu com o que sabia fazer melhor: conversa direta. Em vez de recuar ou rebater nas redes, transformou o tema em porta-a-porta, levando o cálculo às feiras e escadarias dos bairros. Deixou que os números virassem diálogo, que a economia ganhasse rosto. O episódio mostrou o centro de seu método: deslocar o ataque para a agenda concreta e fazer da política um exercício de tradução cotidiana.
Chantal Mouffe, uma das principais teóricas contemporâneas do discurso político, diz que a tarefa da esquerda não é suprimir o conflito, mas organizá-lo democraticamente. Mamdani parece ter compreendido isso instintivamente. Ele não evita o antagonismo; o acolhe e o ressignifica. Em vez de responder ao medo com medo, responde com humor e calma. O gesto é político: onde os outros veem provocação, ele enxerga oportunidade de escuta. A disputa contemporânea não é apenas ideológica, mas afetiva, estética e simbólica.
Outro elemento central em sua campanha foi a cor. Nos Estados Unidos, o vermelho pertence aos republicanos e o azul aos democratas, duas cores já desgastadas pela polarização e pela saturação simbólica do sistema. Mamdani evitou ambas. Escolheu um azul-cobalto luminoso, misturado a tonalidades quentes e claras, que comunicavam vitalidade, movimento e intensidade. Era uma cor que escapava da lógica binária, um gesto cromático de independência e reinvenção. O azul de Mamdani não era institucional nem neutro: era uma cor emocional, carregada de futuro. Em vez de disputar o código visual dos partidos, sua campanha criou um outro campo de significação, o das cores que falam ao desejo, não ao medo.
Essa estética da proximidade se estendia à forma. Terno simples, sorriso contido, andar de metrô, jeito de falar com sotaque local. Em um país habituado à retórica dos milionários e à teatralidade dos grandes comícios, ele parecia de outro tempo ou, talvez, de um tempo que ainda não começou. Sua figura rompeu com o modelo do líder salvador e corporificou a ideia de uma política do comum. O antagonismo também se expressa no corpo, nas cores e nos gestos.
Há um vídeo recente em que a escritora canadense Naomi Klein, conhecida por livros como A Doutrina do Choque e Sem Logo, comenta a vitória de Mamdani. Ela afirma: “Mesmo sem ser explicitamente antifascista, tudo o que essa campanha faz é o oposto do fascismo. É uma celebração da diversidade linguística, cultural, de fé, racial e geracional justamente quando tudo isso está sob ataque.” Ela tem razão. O antifascismo de Mamdani não está nos slogans, mas na sua forma de estar no mundo. É um antifascismo alegre, afirmativo, cotidiano — o antifascismo de quem não precisa odiar o inimigo para amar a política.
Essa é uma das chaves para compreender o que está em jogo. A extrema direita, em diversas partes do mundo, construiu força a partir de um discurso que se apresenta como “anti-sistema”. Trump, Bolsonaro, Milei, todos exploraram o sentimento de desencanto com a política institucional. Fizeram do ódio à política o centro de uma nova política. O gesto de Mamdani é outro. Ele não se coloca como alguém “fora da política”, mas como a própria possibilidade de virar a política do avesso, de fazê-la retornar à sua função de representação concreta das experiências coletivas. É uma forma de radicalidade que não nega o sistema democrático, mas que o reapropria.
Esse movimento não é novo, lembra, em certa medida, o que fez a France Insoumise nas últimas eleições francesas, liderada por Jean-Luc Mélenchon: uma esquerda que assume o antagonismo, mas o traduz em discurso popular, não em ressentimento. O radicalismo de Mamdani é diferente do da extrema direita porque não é o radicalismo do ressentimento, mas o da imaginação. Ele não promete destruir o sistema: promete reinventá-lo.
Há também algo de geracional nessa virada — mas “geracional” aqui não significa apenas idade biológica. Mamdani tem 34 anos, é jovem, mas o que ele representa é uma juventude política mais profunda: a de um novo léxico, de um novo ritmo, de uma nova forma de falar e ser ouvido. É uma geração política que compreende que o futuro se disputa agora, que não há distância entre o presente e o porvir. O futuro, como ideia, não é mais uma utopia distante, mas uma urgência cotidiana. E é justamente essa sensação de presente expandido que suas campanhas capturam tão bem: o sentimento de que ou mudamos o rumo agora, ou seremos arrastados pela nostalgia dos que prometem voltar a um passado que nunca existiu.
A vitória de Mamdani não apaga o trumpismo. Ele continua vivo, mas deixou de ser o único discurso com energia popular nos Estados Unidos. O que o prefeito eleito de Nova York representa é a retomada da esperança como linguagem política. Não aquela esperança ingênua, mas a esperança ativa, que nasce do encontro entre vulnerabilidade e coragem. Sua campanha não pediu moderação, pediu escuta. E essa talvez seja a lição mais urgente para a esquerda global e para o Brasil em especial.
Nosso campo progressista aprendeu a resistir, mas ainda não reaprendeu a encantar. Falamos bem em diagnósticos, mas pouco em desejos. Transformamos a comunicação em instrumento técnico, e não em linguagem política. Mamdani mostra que a disputa contemporânea é simbólica: o que está em jogo é o poder de nomear o real. A direita nomeia com medo e ressentimento; a esquerda precisa voltar a nomear com solidariedade, humor e projeto.
Recalcular a rota não significa mudar de direção, mas mudar de método. Significa compreender que comunicar é fazer política e que política é disputar o sentido do presente. É hora de pensar táticas novas, não como fuga do que já fomos, mas como invenção do que ainda podemos ser. A esquerda precisa sair da análise conjuntural e se recolocar na disputa do imaginário. Porque o presente, com toda a sua instabilidade, é o terreno onde o futuro está sendo decidido.
Zohran Mamdani não representa apenas uma nova geração de políticos. Representa um novo modo de fazer política: com os pés na rua, a cabeça no futuro e o coração no comum. É a lembrança de que a política ainda pode ser um ato de coragem e de esperança. E que, talvez, recalcular a rota seja justamente isso: encontrar de novo o caminho para falar com o povo e acreditar que ele ainda quer escutar.
Márcio Cabral é psicanalista e diretor do Instituto SIG – Psicanálise & Política e do Instituto E Se Fosse Você?
Top 5 da semana

mundo
O renascimento da Doutrina Monroe: a América Latina na encruzilhada do Século XXI
mundo
Liberdade para Maduro e Cilia, sequestrados e presos políticos do imperialismo
colunistas
Guerra contra a Venezuela
colunistas
“Guerra às drogas” + “guerra ao terror” e o imperialismo de Trump na América Latina
mundo










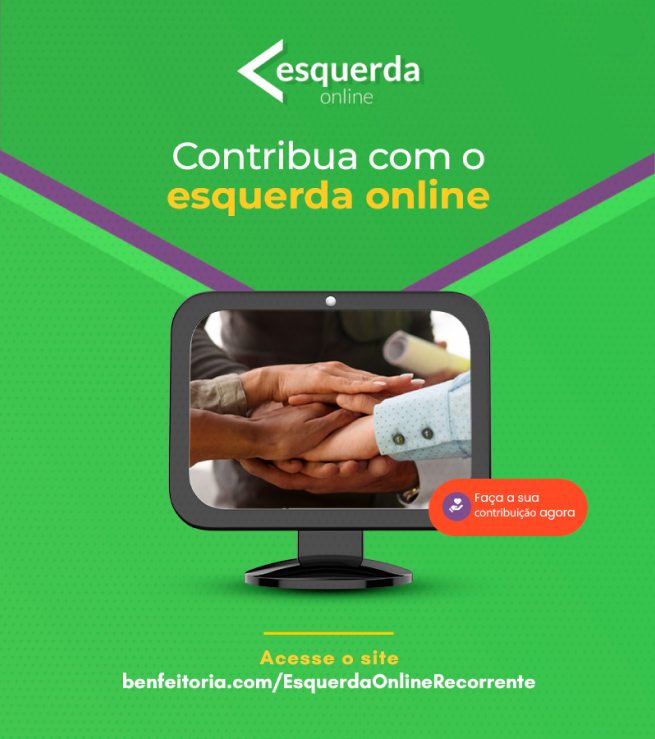


 Imperialismo e pirataria: Trump aumenta ações militares contra soberania da Venezuela
Imperialismo e pirataria: Trump aumenta ações militares contra soberania da Venezuela