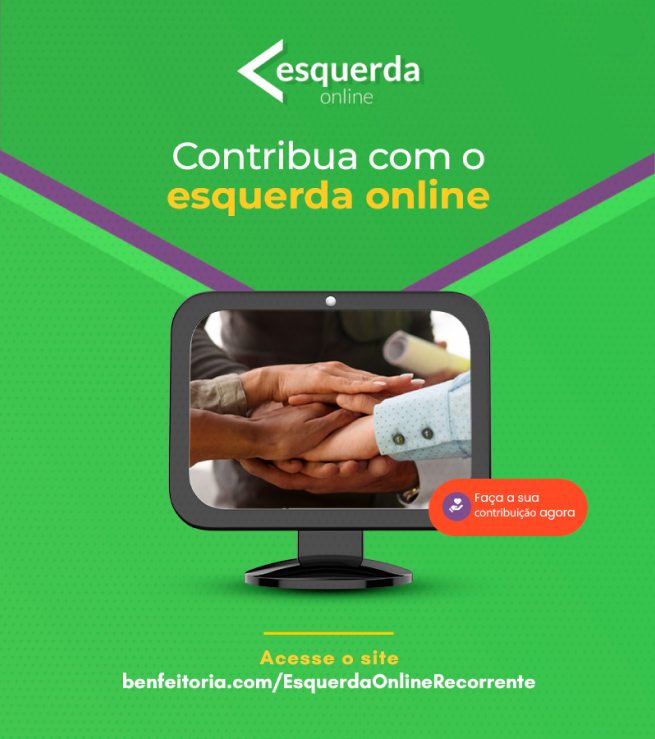Transição energética: a importância de um plano popular para o futuro do Brasil
Publicado em: 7 de novembro de 2025
Foto: Divulgação
Se um dos primeiros grandes desafios de nossa geração é enfrentar o negacionismo climático, a perigosa mistura de neofascismo com desprezo pela ciência que por anos paralisou o debate no Brasil, o segundo se revela ainda mais complexo: disputar o próprio conteúdo e o rumo da transição energética. Após anos de atraso e destruição ambiental deliberada, o tema da crise climática finalmente ocupa o centro da agenda pública. Contudo, essa emergência não veio sozinha; junto com ela, surge uma nova e crucial disputa política: quem conduzirá essa transição e a serviço de quais interesses, se do capital global ou do bem-estar social, ela será, de fato, implementada?
Vivemos, portanto, um momento profundamente paradoxal. Nunca se falou tanto em sustentabilidade, neutralidade de carbono e economia verde, adotando-se uma retórica sedutora. No entanto, e apesar de todo o marketing de responsabilidade social, o modelo econômico que produz desigualdade estrutural e destrói o meio ambiente em ritmo acelerado permanece fundamentalmente intacto. Sob o rótulo da “transição energética”, o que muitas vezes se observa é apenas a roupagem nova do velho extrativismo colonial, que se adapta para explorar recursos “limpos” sem alterar a lógica de subordinação. O que está em jogo, portanto, transcende a simples substituição de uma matriz energética por outra. A disputa é, em essência, sobre o rumo do projeto nacional em sua totalidade. Por isso, afirmar que a transição energética é um debate político, é crucial, pois ela se configura, em última instância, como um imperativo civilizatório.
O Brasil reúne todas as condições materiais e ambientais para liderar uma virada ecológica global. Nossa matriz elétrica já é majoritariamente renovável, com cerca de 83% da eletricidade provindo de fontes limpas, enquanto a média mundial gira em torno de 29%. Além disso, possuímos um vasto e inexplorado potencial solar e eólico, vastos biomas e uma biodiversidade sem paralelo. No entanto, apesar dessa abundância inegável, jamais fomos plenamente soberanos sobre nossos recursos naturais. O país continua atrelado a um modelo de desenvolvimento dependente, que atua como mero exportador de energia, recursos e vulnerabilidade climática, enquanto importa tecnologia de ponta e reforça a desigualdade interna. Em última análise, a disputa sobre a transição energética é a disputa pelo controle do futuro: será ele determinado pelo capital financeiro e as tradings globais ou pelas necessidades e decisões do povo brasileiro?
O Esgotamento do modelo dependente e extrativista
Entender a urgência de uma transição justa exige uma análise aprofundada do esgotamento do modelo extrativista que moldou a economia brasileira desde a colônia. O desenvolvimento nacional foi historicamente balizado pela exploração intensiva do território e pela exportação de matérias-primas in natura: da cana ao café, do minério ao petróleo. Agora, com a nova onda verde, o ciclo se repete com a exportação de energia “limpa” e commodities como o hidrogênio verde. Cada um desses ciclos reforçou implacavelmente a dependência externa do país e concentrou dramaticamente a renda e o poder nas mãos de uma pequena elite e seus parceiros internacionais.
Hoje, a promessa da sustentabilidade, apesar de seu discurso progressista, vem acompanhada de novas e sofisticadas formas de exploração. Fala-se em “energias renováveis”, mas o que se renova, na prática, é apenas a lógica perversa da desigualdade territorial. Vemos vastas áreas de terras camponesas, quilombolas e indígenas sendo desapropriadas ou se tornando “zonas de sacrifício” para dar lugar a mega projetos eólicos e solares que alimentam primariamente o mercado global de energia. O vento e o sol, que deveriam ser bens comuns, são transformados em mercadoria e seu valor passa a ser medido em megawatts e em dólares, perdendo sua conexão com a qualidade de vida local e a soberania alimentar e territorial.
Esse fenômeno tem um nome claro e alarmante: financeirização da natureza. Diante da crise climática, o capitalismo global não muda sua essência exploratória; apenas muda o produto. Se antes a exploração visava o petróleo, agora visa o vento, o sol e o carbono florestal. Se antes o sistema destruía florestas para commodities, agora ele vende a preservação dessas mesmas florestas como um ativo financeiro ou crédito de carbono. A “economia verde”, assim conduzida, promete eficiência e progresso, mas o que ela frequentemente entrega é o aprofundamento da desigualdade territorial, a manutenção da dependência tecnológica e a exclusão social de quem vive e depende diretamente desses territórios.
O resultado dessa lógica é uma contradição brutal e ética: a crise climática não é neutra, atingindo desproporcionalmente populações de baixa renda e negras, as mais vulneráveis a eventos extremos. As comunidades que historicamente mais preservam o meio ambiente, os povos indígenas, quilombolas, pescadores e camponeses, são as que mais sofrem os impactos da degradação e dos megaprojetos de “solução”. Eles são empurrados para as margens, enquanto seus territórios são ocupados por grandes corporações que se apresentam, ironicamente, como portadoras do futuro. A questão central, portanto, é que a transição não pode se limitar a ser meramente tecnológica. Se for guiada pelos mesmos mecanismos de exploração do passado, ela apenas trocará o combustível, mantendo intocado o sistema que destrói. O debate sobre energia é, no fundo, um debate urgente sobre poder, território e a prioridade da justiça social na definição do destino do país.
O caráter público da energia e o papel estratégico do Estado
No Brasil, a energia, historicamente, quase nunca foi tratada como um direito fundamental ou um bem comum. Ela foi utilizada primordialmente como instrumento de política econômica, moeda de troca e mercadoria altamente lucrativa. Cada ciclo energético, da era das grandes hidrelétricas à do petróleo, e agora à das renováveis, manteve e reforçou a lógica da concentração de poder e da subordinação contínua às demandas dos mercados e interesses externos. Romper com esse padrão histórico exige, antes de tudo, que se compreenda a energia como uma questão intrinsecamente ligada à justiça distributiva.
A democratização energética implica o poder efetivo de decidir, de forma popular e autônoma, o que fazer com nossos recursos naturais e, fundamentalmente, em benefício de quem eles serão utilizados. É um princípio que demanda que o planejamento da política energética seja voltado para as necessidades reais da população, acesso universal, moradia digna, mobilidade, agricultura familiar e educação, e não apenas em função das metas de lucro de holdings ou de exportação.
Nesse contexto, a Petrobras emerge como o ator público de maior relevância e, paradoxalmente, o de maior contradição. Sendo a maior empresa pública nacional, com capacidade incomparável de investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de articulação logística, ela detém o potencial estratégico para liderar a transição justa. A Petrobras pode e deve utilizar sua capacidade de capitalização (proveniente do petróleo) para promover a mudança estrutural, destinando volumes significativos de investimento para energias de baixo carbono. Contudo, essa missão é tensionada por interesses de mercado que insistem em manter o foco na exploração máxima de combustíveis fósseis (como na Margem Equatorial) e na remuneração de acionistas minoritários. A disputa pelo futuro da Petrobras, portanto, é o campo de batalha mais visível para definir se o capital público será direcionado ao lucro ou à construção de uma transição popular e justa.
O Estado possui, assim, um papel crucial: restituir o caráter público da energia. Não basta apenas atuar como um regulador passivo; é preciso garantir que a transição energética seja, por definição, uma política de redistribuição de poder e riqueza. Isso se traduz em ações concretas, como investir pesadamente em inovação pública e tecnológica nacional, fortalecer as universidades e institutos de pesquisa, estimular cooperativas populares e a microgeração distribuída, e combater ativamente a financeirização dos bens naturais. O caminho da Transição Justa é o ponto de partida para estabelecer um novo modelo de desenvolvimento que una, de maneira inseparável, autonomia tecnológica, justiça social e sustentabilidade ambiental.
Uma transição socialmente referenciada e popular
Uma transição socialmente referenciada é aquela que inverte a lógica do planejamento: ela nasce dos territórios, das necessidades concretas do povo e de seus modos de vida. Não se trata de adaptar o povo aos critérios do mercado, mas sim de adaptar a política energética às realidades e demandas sociais. Significa, em essência, reconhecer que não haverá transição justa e legítima se ela não dialogar ativamente com quem vive e trabalha na terra, nas periferias urbanas, nas florestas e nas águas.
Ser socialmente referenciada é o que confere a verdadeira legitimidade e a força duradoura a qualquer transformação estrutural. Isso implica colocar o bem-estar e a autonomia das pessoas, não o lucro, no centro das decisões. O objetivo último não pode ser apenas gerar uma quantidade maior de energia limpa, mas sim gerar vida digna, promover trabalho decente e garantir a autonomia territorial das comunidades.
Na prática, a implementação dessa transição popular passa por medidas concretas e descentralizadoras, como democratizar a geração de energia, estimular a criação de cooperativas populares, a microgeração em escolas, postos de saúde, assentamentos e comunidades, tirando o poder de geração das grandes utilities. Reduzir a dependência, priorizar redes locais e descentralizadas, diminuindo a dependência e a vulnerabilidade impostas pelos megaprojetos centralizados. Vínculo Social, ligar a política energética a políticas sociais transformadoras, como reforma agrária, regularização fundiária e incentivo robusto à agricultura familiar. Reparação, garantir reparação e compensação efetivas e diretas às comunidades já impactadas, criando fundos locais geridos com participação popular.
Essa transição, em sua profundidade, atua também como uma pedagogia de poder. Ao envolver as pessoas nas decisões sobre seu próprio futuro energético, ela fortalece a democracia de base; ao valorizar saberes tradicionais, combate o racismo ambiental e a colonialidade; e, ao estimular a autonomia energética, cria novas formas de cidadania e de pertencimento. Essa transição tem rostos e nomes: é a mulher sertaneja que organiza uma cooperativa solar; é o quilombola que defende sua terra da especulação eólica; é o jovem periférico que aprende tecnologia social. São essas experiências que demonstram que a energia pode ser um instrumento de emancipação coletiva, e não apenas de lucro privado.
O novo paradigma civilizatório: do extrativismo ao bem-viver
A crise climática é muito mais do que um problema ambiental; ela é uma crise estrutural e civilizatória. Ela escancara o limite terminal de um modelo de desenvolvimento baseado na exploração infinita e predatória da natureza e na desigualdade permanente entre as classes e os povos. O Brasil, com sua história de resistência social e sua incomparável riqueza ecológica, pode e deve ser o palco onde se constrói um novo paradigma: o do Bem Viver.
Esse paradigma propõe uma inversão radical de valores. Ele entende a natureza não mais como mero recurso a ser extraído, mas como uma relação complexa e essencial a ser cuidada; a energia não é vista como mercadoria, mas como um direito fundamental; e o desenvolvimento não é sinônimo de crescimento ilimitado do PIB, mas sim de reprodução da vida em todas as suas formas e diversidades.
A transição energética justa e popular é o caminho prático para essa mudança profunda. Ela articula, de maneira inseparável, justiça social, democracia participativa e a reconstrução nacional. Não se trata de negar a importância da tecnologia ou dos investimentos necessários, mas sim de recolocá-los sob outra lógica de comando: a lógica do comum, da partilha, da solidariedade e da redistribuição.
O século XXI exige uma reconstrução pautada inexoravelmente na justiça. O Brasil tem a oportunidade histórica de se tornar uma referência global se conseguir fazer da sua transição energética um projeto de país e não um projeto de mercado. Um projeto que una clima, território, cultura e povo, e que reconheça as mulheres, os negros, os indígenas e os trabalhadores como os protagonistas legítimos da reconstrução ecológica e democrática. As forças progressistas e a sociedade civil têm, portanto, um papel decisivo nessa disputa: não basta apoiar a transição, é preciso disputar o seu sentido e garantir que cada política, cada plano e cada investimento estejam subordinados aos princípios da justiça ambiental e da distribuição de renda e poder. A pressa e a voracidade do mercado jamais podem se sobrepor ao tempo necessário da democracia e da justiça.
A transição energética é, em seu cerne, o coração da reconstrução nacional. Ela pode aprofundar a dependência e a desigualdade, ou inaugurar um novo ciclo de autonomia e democratização do futuro. A escolha está aberta, mas o tempo para a decisão é curto. O colapso climático não espera, e a esperança de um futuro justo também não pode esperar. O Brasil detém a chance de provar que é possível outro tipo de desenvolvimento: aquele que não extrai, mas regenera; que não concentra, mas reparte; que não explora, mas cuida. A transição justa e popular não é uma promessa, é a mais urgente exigência histórica.
Top 5 da semana

mundo
Liberdade para Maduro e Cilia, sequestrados e presos políticos do imperialismo
colunistas
Guerra contra a Venezuela
colunistas
“Guerra às drogas” + “guerra ao terror” e o imperialismo de Trump na América Latina
mundo
Quem é Delcy Rodrigues, a nova presidenta da Venezuela?
editorial