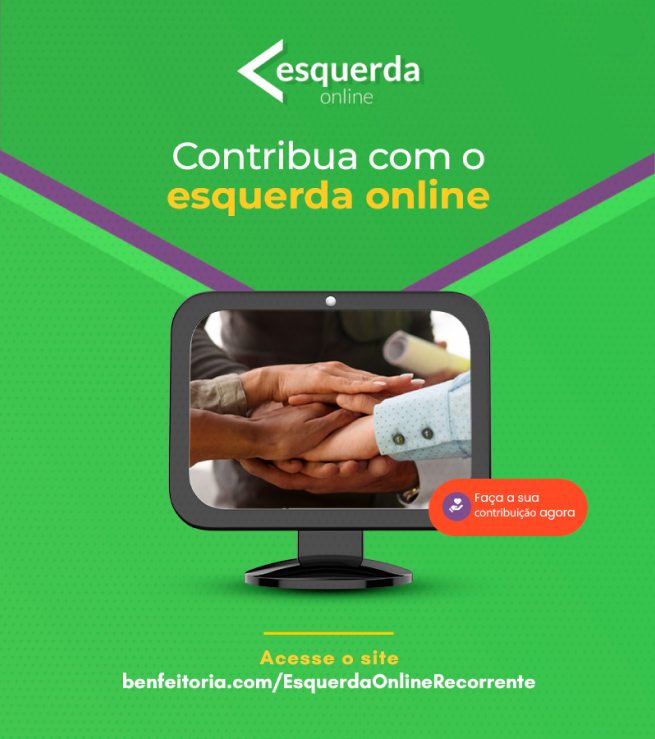61 anos do golpe civil-militar de 1964
Publicado em: 1 de abril de 2025
Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, de Juiz de Fora, comandou suas tropas em direção ao Rio de Janeiro. O intuito era demonstrar força contra o presidente da República, o trabalhista João Goulart, considerado pelas forças reacionárias como “comunista”. Em Porto Alegre, Goulart fora aconselhado por Leonel Brizola, seu cunhado e então deputado federal pelo estado da Guanabara, a resistir.
No dia 2 de abril, o senador Auro de Moura Andrade presidiu a sessão golpista no Congresso Nacional, que terminou com as seguintes palavras: “Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a Presidência da República. E, nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli” (Clique aqui para ouvir). Temendo um derramamento de sangue, Goulart não seguiu o conselho de Brizola e se exilou no Uruguai. Começavam ali os primeiros dias dos 21 anos de autoritarismo, endividamento, corrupção, censura, torturas e mortes que se seguiriam.
Violência estatal
No entanto, os efeitos deletérios das mais de duas décadas de regime militar vão muito além. Na Segurança Pública, por exemplo, a militarização do policiamento ostensivo é uma herança dos tempos de ditadura. Michel Misse, professor aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (Ifcs) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), menciona o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que define entre as atribuições das polícias militares a atuação ostensiva, preventiva e repressiva. “A Polícia Militar era uma força aquartelada. Não fazia operações na rua de repressão ao crime. Antes, isso era uma atribuição da Guarda Civil e da Polícia Civil”, esclarece. Misse relaciona aquele momento ao atual contexto da violência estatal contra a população negra e periférica. “As PMs trazem para o cenário civil a lógica do ‘inimigo interno’. Para os militares, o inimigo deve ser eliminado. No entanto, o que acaba ocorrendo é que a própria população, que deveria ser protegida, se torna alvo da violência perpetrada pela polícia”, afirma.
Mesmo após quatro décadas da chamada “redemocratização”, a militarização das polícias permanece, garantida constitucionalmente pela Carta Magna de 1988, por meio do artigo 144, parágrafo 5º, que estabelece: “Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil” (Clique aqui para acessar na íntegra).
Para Misse, esse é o principal legado do período ditatorial quando o tema é Segurança Pública. “Quando acaba a ditadura, a polícia militar não volta para os quartéis. Hoje, continuamos com a mesma concepção militarista na área da segurança”, diz o professor.
Ataque ao pensamento crítico
Mas o regime ditatorial não parou por aí. O desmonte da educação pública em favor do ensino privado é mais uma herança do período sombrio em que o Brasil foi comandado pelos militares. O professor Roberto Leher, da Faculdade de Educação (FE) da UFRJ, cita os acordos firmados entre os governos brasileiro e dos Estados Unidos, durante os anos 1960 e 70, como o estabelecido entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a United States Agency International Development (Usaid), o chamado Acordo MEC/Usaid, que resultou na reforma universitária de 1968. “Uma vez concretizado o golpe, a ditadura buscou estancar o movimento em prol da reforma universitária que vinha ganhando corpo no país. A brutal repressão sobre a UnB é uma evidência de que a perspectiva de que as universidades estivessem vinculadas a um projeto de nação pleno de aberturas para o futuro, por meio de reformas estruturais, não seria tolerada. As cassações de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Celso Furtado pelo AI-1, ainda em 1964, comprovam isso”, conta Leher, a respeito do projeto da repressão sofrido por professores e estudantes da Universidade de Brasília, considerada pelos militares como “foco do pensamento esquerdista”.
Leher explica aquele momento em que o ensino superior privado ganha incentivos: era mais interessante ao poder vigente a formação de uma mão-de-obra acrítica, focada no preenchimento de vagas para o mercado de trabalho, do que de trabalhadores e pesquisadores qualificados criticamente. “A ditadura, paulatinamente, foi viabilizando o setor privado massivo, por meio do vestibular classificatório, isenções no imposto de renda e, um pouco adiante, do Crédito Educativo. Se antes do regime militar o setor privado não alcançava 40% das matrículas (em um universo muito reduzido de estudantes), em meados da década de 1970, as matrículas públicas e privadas estavam empatadas. No início dos anos 1980, as matrículas privadas chegaram a 60%”, pontua.
Reitor da UFRJ no período 2015-2019, Leher acredita que o desinvestimento na educação superior nos dias atuais surgiu naquele momento como política de Estado. “Até hoje, por exemplo, existe lista tríplice para escolha de dirigentes (a nomeação dos reitores é feita pelo Ministério da Educação a partir de uma lista com três nomes enviada pelo Conselho Universitário). As universidades públicas não dispõem de verbas orçamentárias definidas em lei, a assistência estudantil se dá por meio de um frágil decreto etc.”, relata. “Em resumo, ainda não realizamos o duro ajuste de contas com os terríveis legados da ditadura empresarial-militar sobre as universidades”, completa Leher.
Torturas, execuções, mortes e desaparecimentos
O recente sucesso do filme Ainda Estou Aqui, premiado com o Oscar de Melhor Filme Internacional, jogou luz sobre os casos de desaparecimentos de opositores do regime militar. A obra, baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e dirigida no cinema por Walter Salles, conta a história de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, preso, torturado e morto em 1971.
No último dia 24 de março, em cerimônia com a presença da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, o Estado brasileiro reconheceu a sua negligência no caso da chamada Vala de Perus, em São Paulo. Em 1990, foram descobertas mais de mil ossadas humanas no Cemitério Dom Bosco, na capital paulista. Apenas em 2014, ano da instalação da Comissão da Memória e da Verdade, foram retomados os trabalhos de identificação. Ainda assim, até hoje, apenas cinco vítimas foram identificadas (Clique aqui para ler mais).
“Os 61 Anos do Golpe de 1964 mostram que as forças e a memória das nossas lutas ainda estão aqui. A presença da tortura, do desaparecimento, da execução sumária e do aprisionamento ainda nos mantém no círculo de ferro da dominação, com apartacão social, racial e espacial”, analisa o professor Pedro Cláudio Cunca Bocayuva, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely Souza de Almeida (Nepp-DH) da UFRJ. Cunca, que é sobrinho do ex-deputado Luiz Fernando Bocayuva Cunha, líder do governo João Goulart cassado pelo regime militar pela atuação de resistência ao golpe, relaciona o caso da Vala de Perus às mortes e aos desaparecimentos que ocorrem ainda nos dias atuais, vitimizando, em esmagadora maioria, jovens negros e moradores de favelas e periferias.
“O desaparecimento de opositores que a antropologia forense desvendou mostra a amplitude do modo como o desaparecimento é uma forma que serviu para esconder a morte em larga escala de homens e mulheres que foram executados”, diz o professor. “A complexidade desse mapa histórico tem tido sua marca de evidência em cemitérios e covas coletivas, cujas localização e evidências mostram a marca e amplitude do desconhecimento social como modo de dominação e violência política sobre opositores em distintos contextos e modos ao longo dos ciclos políticos, inclusive na atualidade”, acrescenta Cunca.
Luta por reparação
Rejane Nogueira é jornalista, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos (PPDH) da UFRJ, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da UFRJ e compõe do Coletivo de Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça. É filha do preso político Ailton Benedito de Sousa, então estudante de Direito, militante da juventude do PCB e também um dos fundadores do IPCN (Instituto de Pesquisa das Culturas Negras).
Durante a Ditadura civil-militar, Ailton foi preso por agentes do Cenimar (Centro de Informações da Marinha), após a promulgação do Ato Institucional número 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968. Torturado na prisão, foi monitorado por agentes do Estado, mesmo depois da promulgação da Constituição de 1988, ou seja, posteriormente ao período que conhecemos como “redemocratização”. “Como filha de preso político, o que eu posso esperar é que o Estado brasileiro reveja a Lei de Anistia e que os perpetradores de tamanho horror sejam responsabilizados, para além do pedido de desculpas. Isso é fundamental para que não vivamos mais momentos como aquele de violação e de esquecimento”, afirma.
Para ela, o período ditatorial entre 1964-85 foi o recrudescimento da história de brutalidade que os povos negros e originários vivem desde a colonização. “Não podemos esquecer que este país em que vivemos foi fundado a partir da expropriação de bens materiais e simbólicos de propriedades inteiras e de sistemáticas violações de corpos e de direitos fundamentais: o sequestro e a escravização de pessoas negras, o genocídio dos povos originários, invasão de suas terras e a abolição violenta dos seus modos de vida”, continua a pesquisadora, que estuda as formas de enfrentamento dos estudantes negros à ditadura civil-militar. “Tudo isso ainda é sentido, quase 400 anos depois. Por esses motivos, é preciso que haja uma reparação dos danos transgeracionais, que ocorrem institucionalmente desde o processo de colonização até os dias atuais”, conclui Rejane.
No 61º aniversário do golpe, a novidade é, pela primeira vez em nossa história, o indiciamento de militares de alta patente por golpe de Estado, em julgamento realizado nos dias 25 e 26 de março último pela 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF). As medidas por reparação às vítimas da ditadura e suas famílias, entretanto, ainda são tímidas. A pressão pela anistia aos perpetradores da tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 ainda é forte no Congresso Nacional. A disputa entre aqueles que querem o arbítrio de volta e os que reivindicam verdade e justiça está posta. A História ainda está sendo escrita.
Voir cette publication sur Instagram