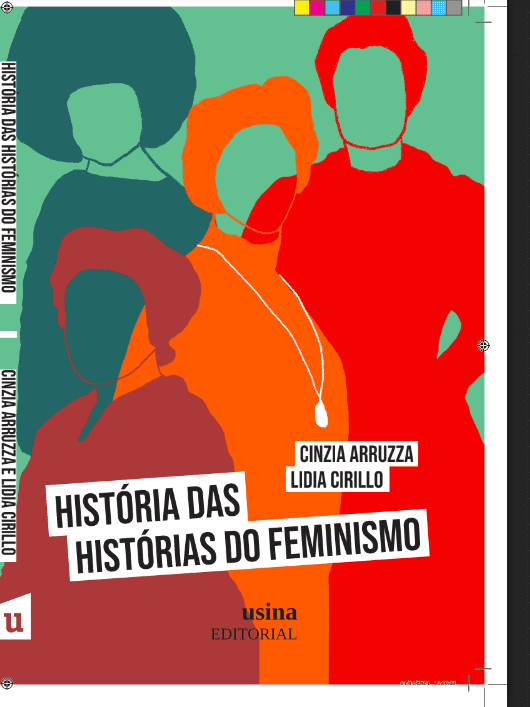10 anos de levante feminista: o passado é janela para o futuro
Publicado em: 17 de dezembro de 2025
José Cruz/Agência Brasil
Em algumas semanas, completo 2 anos como dirigente nacional de mulheres do PSOL e da Resistência. Assim que assumi a nova tarefa, fui incubida de escrever um prefácio para a edição brasileira do livro “História das Histórias do feminismo”, lançado pela Usina Editorial em 2024, de autoria de Cinzia Arruzza e Lidia Cirillo. Neste texto, refleti sobre 3 ideias centrais que hoje, relendo seu conteúdo e refletindo sobre a minha história nesses últimos 2 anos, e a história do movimento feminista da última década, acho que segue atual e relevante.
Por isso, antes de terminar 2025 e com ele, a década que marcou a retomada das lutas feministas como um levante internacional de mulheres profundamente antirracista e LBTI+, resolvi compartilhar o prefácio aqui na minha coluna do Esquerda Online. Como sistematizei no texto, devemos seguir nos indagando sobre “as perguntas que se abrem no presente ao olharmos para o passado”, sobre “o que podemos, exatamente, definir como feminismo, ou movimento de mulheres, perante a história da luta de classes” ou, até mesmo, sobre “o que é ser uma mulher” e que “lições podemos tirar da história para pensar a concepção de movimento feminista que defendemos hoje”. E por fim, investigar o que marcou o último levante feminista que se iniciou há 10 anos atrás.
Este ano seguimos ocupando as ruas afirmando o óbvio – que criança não é mãe, que é preciso dar um basta na barbárie dos feminicídios e violência doméstica, no genocídio do povo negro que arranca de tantas mães os seus filhos. Estivemos em novembro em Brasília na II Marcha Nacional de Mulheres Negras, por reparação e bem-viver, e em setembro na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, ambas 10 anos depois de sua última edição.
Avançamos no combate à escala 6×1 e na estruturação de uma política de cuidados. Resistimos contra a emergência climática e o racismo ambiental. Reorganizamos nossas lutas de norte a sul do país como um enxame de abelhas através do movimento Mulheres em Lutas. Seguimos na linha de frente contra os ataques da extrema direita, sabendo que as grandes batalhas ainda estão por vir. As futuras gerações, o planeta e todas as suas espécies, dependem que mantenhamos nossas lutas e florestas de pé.
Espero que este texto suscite reflexões que possam servir como subsídio para os caminhos que ainda serão construídos e trilhados coletivamente por nós. É nesse sentido que convido à leitura percorrendo no texto “o passado como uma janela para o futuro”; os diferentes feminismos que formam “o feminismo”; e os desafios do presente com o fortalecimento da extrema direita que segue em escalada e a tentativa de mercantilizar e cooptar nossas lutas transformando “o político em pessoal”.
Quem tiver interesse em adquirir o livro, ele segue à venda no site da Usina Editorial.
Prefácio à edição brasileira “História das histórias do feminismo”
O livro que chega, agora, em suas mãos, é a edição brasileira do original publicado no início de 2017, na Itália, como uma edição especial dos Quaderni Viola. A obra de Cinzia Arruzza e Lidia Cirillo vem no bojo do último levante feminista que recém se iniciava em 2015, e teve no ano de seu lançamento a realização da histórica greve internacional de mulheres. Lidia Cirillo, a jornalista e escritora napolitana, é militante feminista desde os anos 1960. Responsável pelas primeiras edições dos Quaderni Viola, ela escreve a Introdução e os primeiros capítulos deste livro. Cinzia Arruzza, intelectual e militante feminista italiana radicada nos EUA, escreve os últimos 3 capítulos e as conclusões. Ela publicou em 2013 o livro “Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo” e é uma das autoras do “Feminismo para os 99%: um manifesto”, além de ter sido ativa na construção da greve internacional de mulheres. As duas autoras são militantes feministas de diferentes gerações e escreveram esta obra com o objetivo de subsidiar o crescente levante feminista com o resgate da memória de mais de dois séculos do movimento de mulheres.
Neste prefácio à edição brasileira, quero trazer três ideias que, espero, contribuam para as reflexões do livro histórico e político que temos em mãos. A primeira é a importância de saber identificar as perguntas que se abrem no presente ao olharmos para o passado. Precisamos aprender com os erros e acertos, avanços e derrotas, saber como chegamos até aqui e como podemos nos preparar para os desafios do nosso tempo. A segunda é uma reflexão sobre o que podemos, exatamente, definir como feminismo, ou movimento de mulheres, perante a história da luta de classes. E ainda nos perguntar: o que é ser uma mulher? Quais lições podemos tirar da história para pensar a concepção de movimento feminista que defendemos hoje? Por fim, analiso brevemente estes 7 anos desde que a obra foi publicada. O que aconteceu com o movimento feminista que despontava naquele período? Quais avanços conquistamos, e quais desafios se colocam para a nossa luta e para o debate das ideias feministas?
Espero que este prefácio contribua para a sua leitura e para as reflexões coletivas, teóricas e políticas que se multiplicam entre nós, mulheres, em toda a nossa diversidade.
O passado é uma janela para o futuro
A cada geração, a cada nova onda de lutas, reformulam-se questões para pensar nossa história. O presente orienta as perguntas que fazemos sobre os eventos que já passaram e nos dão pistas de como seguir. A pesquisa histórica e a construção da memória dos movimentos sociais são palco permanente de disputa política. Os fatos do passado podem ser sempre reinterpretados à luz das novas urgências do presente. Acredito que essa ideia, que é parte de um amplo e complexo debate no campo da História, merece uma reflexão especial na leitura desta obra. Em primeiro lugar porque o livro, com seus 8 capítulos, introdução e conclusões, nos fornece uma série de histórias que as autoras sabiamente sintetizam como uma pluralidade de eventos que compõem a história do feminismo. As próprias autoras reconhecem a ousadia proposta no título e deixam como tarefa a ser cumprida a inclusão de outros episódios históricos e de outras mulheres icônicas que fizeram parte deste caminho – o que exigiria “um grupo de trabalho muito maior”.
Pensar a história do feminismo é, também, pensar na história de tantas mulheres que marcaram esse processo. É, também, olhar para suas vidas, para quem foram, para os sacrifícios que fizeram, para os sofrimentos que viveram. Mulheres que se destacaram na história e foram consideradas “à frente do seu tempo” não foram tratadas como heroínas, muito pelo contrário. Enfrentaram processos de violência duríssimos em suas vidas pessoais, muitas vezes perderam suas famílias, seus filhos, foram torturadas, morreram precocemente. Pagaram um preço pelo seu vanguardismo e comportamentos “pouco esperados” para uma mulher.
Aqui, na história do Brasil e da América Latina, teríamos muitas lutas e figuras a citar. Apesar de algumas importantes obras que resgatam a memória de nosso passado de lutas feministas, de mulheres e homens negros, do movimento LGBTI+ (antes mesmo de se nomear dessa forma), da resistência dos povos originários, creio que ainda há um esforço a ser feito para sintetizar à luz das questões do nosso tempo a nossa história das histórias. Em particular, resgatar exemplos que não compõem o que classicamente podemos definir como parte do feminismo, mas que também representam uma tradição de resistências e construções lideradas por mulheres. Muitos eventos sequer possuem uma precisão histórica pela invisibilidade que sofreram e a falta de fontes escritas. As memórias vem também da tradição oral, passando por gerações e comunidades, que devem seguir sendo cultivadas e registradas. Para ilustrar o que quero dizer e assimilar em nosso feminismo histórias que nem sempre são contadas como tal, menciono alguns poucos exemplos dos dois períodos mais duros da história do nosso país: os séculos de escravidão de homens, mulheres e crianças africanos e afrodescendentes e as décadas da ditadura militar.
São incontáveis as histórias de mulheres negras e indígenas que não só ergueram esse país com seu trabalho, suor, sangue e lágrimas, que foram estupradas, torturadas, separadas de seus filhos, assassinadas, mas que também lideraram rebeliões, construíram organizações políticas, quilombos, comunidades complexas e contrárias à sociabilidade imposta pela dinâmica colonial e imperialista. Podemos citar Dandara dos Palmares, que no século XVII foi uma liderança fundamental na resistência do maior quilombo que o Brasil construiu, ou Tereza de Benguela – a Rainha Tereza, como era conhecida – que liderou política e militarmente o Quilombo de Quariterê no século XVIII. A experiência dos quilombos influenciou toda a história do movimento negro em nosso país, os processos de solidariedade e resistências em favelas e comunidades negras.
Trago também o exemplo de Maria Felipa de Oliveira, estrategista e liderança da luta pela independência da Bahia no início do século XIX. Filha de escravizados sudaneses, conquistou sua liberdade e a considerava seu maior tesouro. Era capoeirista, pescadora, marisqueira, trabalhadora da indústria baleeira e liderou um grupo de homens e mulheres contra as invasões portuguesas. Grande parte da sua história foi remontada pela tradição oral da Ilha de Itaparica e do Recôncavo Baiano, e ela liderou um grupo de mulheres negras para atrair soldados portugueses, tirando-os de seus postos de vigia, e os atacando com folhas e galhos de cansanção, que geram urtigas, queimaduras e muita dor. Além disso, sob a sua liderança, atearam fogo em cerca de 40 embarcações portuguesas, ação fundamental para a vitória da independência baiana no dia 2 de julho de 1823, quase 1 ano depois da independência do Brasil. Ainda demorariam 65 anos até a abolição, que se bem sancionou a liberdade formal para a população negra que vivia até então escravizada, a condenou a viver às margens de uma sociedade sem políticas de reparação, acesso a terras, emprego e renda, portanto sem tirar a população negra de uma situação de pobreza extrema e violência recorrente. Há inúmeras outras histórias de lideranças de mulheres negras brasileiras, resistências coletivas e comunitárias a serem contadas e recontadas, com as quais temos muito o que aprender.
Os exemplos da resistência à ditadura militar e das mulheres militantes que arriscaram suas vidas, pegaram em armas, foram torturadas com requintes de crueldade e, muitas, assassinadas precocemente, são fonte de inspiração e aprendizado. Poderíamos citar muitas mulheres, como a história da militante comunista Maria Amélia de Almeida Teles. Amelinha, como era e ainda é conhecida, é mineira, jornalista e, em 1968 começou sua militância no PCdoB. Atuou de forma clandestina na luta armada, na educação política e na imprensa do partido durante os anos de ditadura. Dirigiu e organizou homens e mulheres. Foi presa pela equipe da Operação Bandeirante em 28 de dezembro de 1972. Após uma série de sessões de tortura, teve seus filhos de 4 e 5 anos sequestrados pelo coronel Brilhante Ustra. As crianças foram colocadas na mesma sala em que estava sendo torturada, e a viram levando choques. Sua filha chegou a lhe perguntar por que estava “azul”.
Por mais difícil que seja recontar esses eventos, valorizamos cada história das mulheres e militantes que construíram a resistência durante os anos de chumbo. Nos inspiramos na luta de Zuzu Angel e todas as mães de filhos desaparecidos, de Dulce Pandolfi e tantas lideranças estudantis que se envolveram na luta armada. De mulheres que lideraram a guerrilha do Araguaia como Helenira Resende, Elza Monnerat e tantas outras guerrilheiras, ou ainda Victória Grabois que perdeu toda a família nesse processo. Lembrar de Elizabeth Teixeira, viúva do líder das Ligas Camponesas da Paraíba que sobreviveu por quase vinte anos na clandestinidade, longe de seus filhos e de sua casa para preservar suas vidas. Ou Margarida Maria Alves, assassinada em plena ditadura por denunciar o desrespeito aos direitos dos trabalhadores. A história de Ines Etienne Romeu, a única sobrevivente da Casa da Morte, ou ainda a militância de Thereza Santos, atriz que viveu na clandestinidade e atuou no movimento negro. Ainda poderia citar tantas outras, mas termino com o exemplo de Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil, que também participou da luta armada, viveu na clandestinidade e foi brutalmente torturada. A luta por memória, verdade e justiça segue atual e é parte fundamental de nossa identidade histórica como feministas brasileiras e latino-americanas.
Sem a pretensão de transformar esse prefácio em um resgate histórico do feminismo brasileiro, gostaria de citar brevemente outros movimentos que nos fizeram chegar até aqui. A luta das trabalhadoras rurais por reforma agrária, das sufragistas pelo direito ao voto e participação política. Das trabalhadoras em sindicatos e movimentos fundamentalmente masculinos, enfrentando muita violência política de gênero para ocupar seu espaço e incluir suas pautas. Das mulheres trans e travestis que enfrentaram incontáveis violências, desde Xica Manicongo, primeira travesti não-indígena do Brasil que se tem registro, sequestrada da região do Congo, até Cintura Fina, a travesti negra cearense que foi prostituta em Belo Horizonte nos anos 1950 e uma referência de resistência. Do movimento de mulheres lésbicas e homens gays em diversos episódios históricos, destacadamente durante a abertura democrática e o combate à epidemia de HIV. Das mães por creche e licença-maternidade, de tantas estudantes e trabalhadoras pela educação e saúde públicas, pela assistência e previdência social. A luta por justiça das mães que perderam seus filhos, crianças e jovens negros, vítimas da violência policial do Estado. A construção do feminismo negro – ou afro-latino-americano, como chamou Lélia Gonzalez. Os embates na construção da Constituinte de 1988, o Lobby do batom, e tantos outros momentos históricos que poderiam ser relembrados.
A construção de uma “História das histórias do feminismo” é uma disputa política. É uma forma de apresentar o nosso passado de lutas das mulheres em toda a sua diversidade e em sua relação ora pacífica, ora turbulenta, ora até mesmo inexistente com a própria ideia de “feminismo”. Dependendo do que consideramos feminismo, de quais lutas e quais mulheres devem compor essa história, retomamos o passado construindo no presente uma nova identidade política e histórica. Enxergar as dinâmicas históricas não significa fazê-lo sem crítica, muito pelo contrário. O livro é capaz de contar a história valorizando as contradições em seu caminho. Avanços que trazem, junto consigo, retrocessos. Superações que abrem novos paradigmas. Um processo fundamentalmente contraditório e repleto de lições.
Os feminismos que formam “o feminismo”
O livro parte de uma questão que merece reflexão. E até mesmo identifica, ao longo da história, de que forma essa problemática se deu. O que é “o feminismo”? O que poderia ser considerado um “movimento de mulheres”? Ou, até mesmo, o que é ser “uma mulher”? Logo na apresentação as autoras justificam a sua escolha de colocar feminismo no singular, que seria “o conjunto de feminismos que existem, existiram e os possíveis, cujo objetivo é tornar a vida das mulheres melhor e mais livre”.
Evidente que se pensamos em feminismo, consideramos o movimento que tem como ponto comum reunir “mulheres” de forma auto-organizada. A partir daí, é preciso estabelecer uma nova questão: o que é ser mulher? Ao longo do livro, também nos deparamos com os momentos históricos em que esse questionamento foi feito, tendo o debate sobre a identidade e a organização separada sempre como questões chaves e tensas. O pressuposto de que “o pessoal é político” gerou importantes pontos de partida, mas foi também lugar de protesto permanente. É parte destas histórias do feminismo entender a relação complexa, de colaboração, aprendizado e embate entre o “movimento feminista” e o movimento de mulheres negras, lésbicas, trans, imigrantes, etc. Nunca foi pacífica essa relação, porque a imposição de um ideal de “mulher universal”, necessariamente branca, foi violenta e excludente. Não à toa essa segue sendo uma das questões centrais do movimento até os nossos tempos.
Um movimento de mulheres autônomo, organizado de forma separada, é um fenômeno que surge, some e reaparece ao longo da história, sempre atravessado por esse tensionamento diante da diversidade do “ser mulher”. Surge como uma necessidade do reconhecimento da opressão e da falta de espaços comuns em que as mulheres possam ter sua voz ouvida e suas demandas organizadas. Na realidade, por muitas e muitas décadas, as mulheres sequer tinham o direito de se filiar a organizações políticas e sindicais. Quando o movimento surgiu abordando temáticas sobre a discriminação específica do fato de “ser mulher”, rendeu alguns episódios históricos emblemáticos, como a luta pelo direito ao voto, a autonomia econômica e a libertação sexual. Em todos os casos, também representou limites e exclusões. De todos os avanços que conquistou, do ponto de vista material e subjetivo/cultural, abriram-se novas questões. E porque não são um sujeito político permanente, o movimento se decompôs na sociedade ou em diferentes organizações, para ressurgir como força social e política em algum outro momento.
Ao longo da história, uma série de questões que compõe a própria identidade do movimento feminista surgiram, se repetiram e ainda hoje são parte das nossas reflexões. Por exemplo, a questão da maternidade e dos cuidados com a família… De que forma se relacionam com a busca por autonomia do corpo, liberdade sexual e emancipação econômica? Qual o tamanho da diferenciação sobre isso entre mulheres negras e brancas? Como se afastar da figura simbólica e sagrada da mãe e se aproximar das mães reais? Ou ainda, qual o papel cumprido pelas distintas religiões? O que significa, para as mulheres em sua diversidade, a luta por igualdade e liberdade no capitalismo? E a bandeira da igualdade salarial e direitos trabalhistas? Como romper ciclos de violência doméstica? Como garantir autonomia financeira, afetiva e sexual? Como lidar com as múltiplas jornadas da mulher trabalhadora, inclusive entre militantes e revolucionárias? Como a luta feminista impactou organizações políticas comunistas?
A cada tentativa de lidar com essas questões, a cada luta que avançava em determinado ponto, o movimento se esbarrava em novas questões. Todos os avanços do movimento feminista vieram prenhes de contradições que iriam explodir em um outro momento histórico, e é muito rico perceber isso nas páginas deste livro. Há que se perguntar hoje, por exemplo: quando as mulheres estão em luta por melhores condições de vida que não se pautam, necessariamente, pelas questões tradicionalmente definidas como “feministas”, devemos incluí-las como parte da história do feminismo? Ao falarmos em mulheres em movimento, também falamos do movimento de mulheres?
Talvez questões deste tipo tenham a ver com a busca atual de um movimento feminista que seja “para os 99%”, e que consiga compreender o feminismo como uma unidade diversa. Diante de uma crise que se aprofunda no capitalismo, com a precarização crescente da vida e a emergência climática que ameaça o planeta Terra, chega a ser um contrassenso compreender uma mulher destituída de classe, de raça, de sexualidade, de lugar no mundo. A não ser que esteja a serviço de um projeto político determinado. E o movimento feminista, negro, LGBTI+ se confundem com o próprio movimento da classe trabalhadora em busca de saídas que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, irão se chocar com o capitalismo.
Os desafios do feminismo do nosso tempo
Já se passaram 7 anos desde a publicação da primeira edição deste livro que, como já dito, teve como objetivo condensar a memória passada para subsidiar as lutas vindouras. Mas o que aconteceu de 2017 até aqui que podemos registrar como parte de uma dessas viradas que compõe a história do feminismo? Sem dúvida, não foi qualquer história. Foi um desses momentos em que o feminismo ressurge como força social e política e impacta o conjunto da sociedade. Algumas chamam de terceira ou quarta onda, outras dizem que é um novo feminismo que chegou para ficar. Fato é que vivemos um levante das mulheres que abalou as estruturas do mundo, chacoalhou o machismo, a misoginia, o racismo, a LGBTI+fobia, a xenofobia, tal qual as conhecíamos, e até hoje influencia a política, o mercado, a cultura, os comportamentos, a produção artística: a vida pública e privada.
Não parece ser à toa que o crescimento do movimento se deu, também, com o avanço da crise estrutural do capital que aprofundou o neoliberalismo, o endividamento das famílias, o crescimento da fome, o desmonte de políticas sociais, o desemprego, a precarização do trabalho, o desmatamento das florestas, o ataque aos povos originários, os desastres e refugiados das emergências climáticas, as pandemias, a violência política, doméstica, policial e de todo o tipo.
Neste processo, em oposição e combate ao crescente feminismo, se fortaleceu um movimento internacional de extrema direita, com características neofascistas de cunho fundamentalista religioso, extremamente misógino, racista, xenófobo e LGBTI+fóbico. Todo o início do processo de mobilização das mulheres de 2015 a 2017, como as manifestações na Polônia contra os retrocessos nas leis de acesso ao aborto legal, na Argentina contra o feminicídio e pela legalização do aborto, no Brasil contra o movimento golpista e conservador do Congresso presidido por Eduardo Cunha, contra a violência policial e a ascensão reacionária de Donald Trump nos EUA, entre tantos outros exemplos, se chocavam contra projetos políticos de poder da extrema direita.
Por um lado, a crescente piora das condições de vida provocada pelo aprofundamento do neoliberalismo, e por outro, a radicalização desta direita neofascista ultrarreacionária, implicaram no despontar de um movimento feminista internacionalista que buscava resistir à situação de crise e barbárie em que viviam (e ainda vivem) as famílias trabalhadoras. Buscando superar de forma ativa e consciente a fragmentação, o feminismo se desenvolveu com o protagonismo de mulheres jovens, negras, indígenas, transsexuais e imigrantes. Elaborou novos métodos e símbolos da luta que rodaram o mundo, com destaque para a maré verde dos pañuelos argentinos representando a luta pela legalização do aborto, e a Greve Internacional de Mulheres. Também considero um marco o lançamento do programa-movimento publicado simultaneamente em diversos países e em mais de 20 idiomas no dia 8 de março de 2019, escrito pelas intelectuais e militantes feministas Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser, entre outras: o Feminismo para os 99%, um Manifesto.
E por que “para os 99%”? A escolha da expressão não é mera coincidência com o período histórico em que o movimento se gesta. O feminismo que se fortalece a partir de 2015, assim como o movimento #BlackLivesMatter iniciado em 2013, são o principal saldo político e organizativo da esquerda a partir das mobilizações iniciadas em 2011, com sua Primavera Árabe, os indignados espanhois, a geração à rasca portuguesa, as Jornadas de Junho brasileiras, a maré estudantil chilena, os ocupantes de Wall Street pelos 99%, entre outros. A partir daí, com um movimento de pautas, símbolos e solidariedade internacional conectado em rede que defendia o investimento em políticas públicas e questionava os planos de austeridade dos diversos governos, há uma reação reacionária a esse processo que fortalece uma onda conservadora em escala mundial. Desde então, o movimento feminista, entrelaçado com o movimento negro e LGBTI+, avança na oposição frontal aos governos e lideranças neofascistas e da extrema direita (algumas, inclusive, mulheres!). Desta história recente, creio que podemos tirar conclusões. Eu destacaria três.
Em primeiro lugar, que o avanço da politização e conscientização feminista, antirracista e LGBTI+ vem da luta coletiva. Vem do enfrentamento e da construção de projetos de disputa pelas ideias e pelo poder. A Argentina é um exemplo categórico de um país que teve uma construção histórica do feminismo, com seus Encontros Nacionais anuais, a massificação nas ruas do movimento Ni Una Menos desde 2015, a maré verde e a conquista, enfim, da legalização do aborto em dezembro de 2020. Um país em que o Feminismo Popular (como convencionaram chamar) se enraizou, atingiu comunidades e sindicatos, a literatura, as músicas e o cinema, e viu o avançar da extrema direita expresso na eleição de Javier Milei como seu principal inimigo.
Também no Brasil, ainda que em patamares menos massivos, o crescente levante das mulheres desembocou no maior protesto feminista da sua história às vésperas da eleição de Jair Bolsonaro como presidente, em 2018: a manifestação conhecida como #EleNão. A partir daí, ao longo de seu governo, uma base social crítica majoritariamente feminina, negra, jovem, nordestina e LGBTI+ se formou, sendo permanentemente disputada pela grande mídia e mulheres da direita liberal. Essa disputa segue, não só na América Latina, mas em todo o mundo. Acredito que no marco desse processo, a luta feminista e antirracista também incidiu sobre organizações socialistas e o marxismo em geral no sentido de uma renovação teórica e programática, do resgate da totalidade como princípio metodológico e superação de uma visão idealista de classe trabalhadora; batalha que ainda segue em curso. Compreender que as lutas e movimentos da classe trabalhadora terão as mulheres negras e os setores mais oprimidos como vanguarda é chave para derrotar a extrema direita e seu projeto de poder.
A segunda conclusão que destacaria é que, na medida em que a conscientização feminista avançou e se massificou, a direita neoliberal, a grande mídia e as grandes corporações capitalistas disputaram seus rumos e fortaleceram o projeto de um feminismo liberal. Ao invés de se pensar um “empoderamento coletivo”, vemos o avanço do “empoderamento individual” enquanto ideologia do feminismo liberal. A cooptação dos processos de luta e de crítica no debate social vão, também, transformando o sentido do movimento e deturpando seus objetivos, o que retira o protagonismo da coletividade e das grandes pautas, e vai reduzindo ao âmbito das relações pessoais e do consumo. As redes sociais e as infinitas linhas do tempo em que cada um é o centro de seu próprio universo, nos levam a um “consumo personalizado” e ao incentivo da emissão de opinião que, por si só, já é considerada uma ação política. Tal fenômeno aprofunda a tendência ao narcisismo e ao individualismo na política, jogando contra ações coletivas de mobilização (sem nem mencionar o palco para as fake news e disseminação de políticas de ódio). Se ao longo da história do movimento feminista vimos, muitas vezes, o pessoal se transformar em político, atualmente há também o movimento inverso, só que reacionário: a transformação do político em pessoal.
Em terceiro lugar, que diante da disputa entre os “feminismos”, é preciso ter um programa que avance na politização das massas como uma luta do conjunto da classe trabalhadora. A Greve Internacional de Mulheres e a centralidade dada ao trabalho doméstico e de cuidados amplia a organização e identifica a pluralidade de pontes de solidariedade entre as diversas lutas e trabalhos que as mulheres são obrigadas a fazer. A chave analítica da reprodução social coloca o debate feminista em outro patamar, já que é possível enxergar com muito maior nitidez a vinculação entre o trabalho reprodutivo não-remunerado e o trabalho assalariado ou informal. Dito em outras palavras, a relação entre a produção de mercadorias e a reprodução da vida da classe trabalhadora. Surge a necessidade de pensar saídas que só serão coletivas se tomadas como políticas públicas pelo Estado, pensando em educação, saúde, assistência, previdência, saneamento, cuidado e etc. como políticas integrais. Um feminismo que não seja, só, sobre “feminismo”.
Creio que o debate étnico-racial e o feminismo das mulheres negras e indígenas, junto com o debate LGBTI+ e, particularmente, o transfeminismo, serão os protagonistas dessa construção. De certa forma, já são. Além de condensarem o conjunto das pautas necessárias à vida da classe trabalhadora, representam o que mais se choca com o projeto de poder da extrema direita e do neofascismo. Ao inverter a lógica do capital, estruturamos uma sociedade que se preocupa em produzir e reproduzir a vida – e não mercadorias, desemprego, violência, desastres ambientais e mortes. Uma sociedade para as mulheres negras, indígenas e trans, será uma sociedade para o conjunto da classe trabalhadora. Olhar o feminismo desta forma impacta e abrange a própria história do feminismo e a forma de contar todas as histórias que a compõem.
Top 5 da semana

colunistas
A esquerda radical deveria apoiar Lula desde o primeiro turno. Por quê?
editorial
Mulheres vivas: Contra a barbárie do feminicídio, ocupar as ruas
brasil
O orçamento em jogo: a reforma administrativa cria falsos vilões para esconder os verdadeiros algozes
brasil
ALESP realiza reunião do Conselho de Ética
colunistas