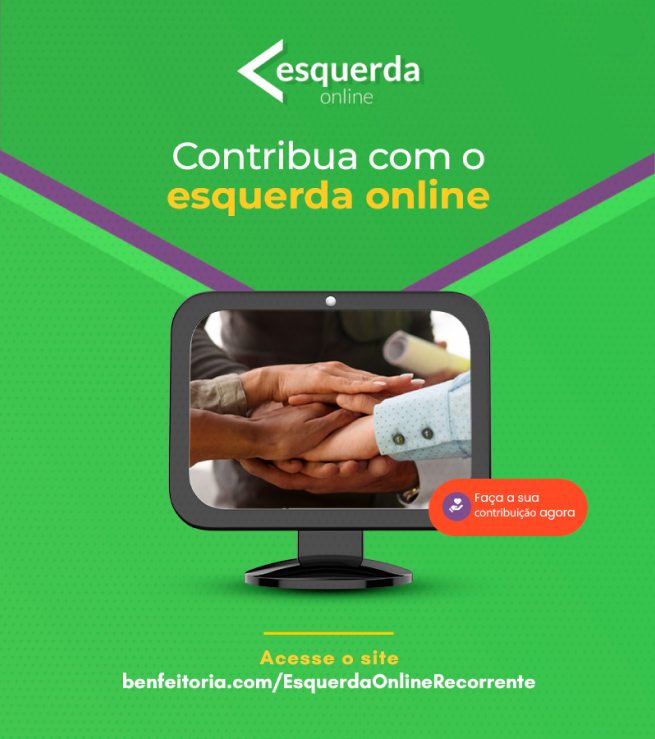O ENEM e o sonho da universidade pública
Série “Universidade e o povo” Parte 1
Publicado em: 7 de novembro de 2025
Foto: USP
Às vésperas do ENEM, me pergunto: o que significa para milhões de jovens o sonho de estudar em uma universidade pública? É apenas uma conquista individual ou parte de uma luta coletiva por igualdade e acesso à educação? Refletindo sobre essas questões, fruto de debates coletivos e da experiência acumulada no Cursinho Comunitário Pré-Universitário Chico Mendes, em Suzano, ao longo de quase duas décadas, decidi compartilhar estas reflexões.
Nesta série, você encontrará diferentes perspectivas sobre a universidade no Brasil. No primeiro texto, discutimos o papel do ENEM e das políticas de inclusão na ampliação do acesso; no segundo, analisamos os limites dessa democratização e as barreiras estruturais ainda presentes; no terceiro, abordamos os ataques sofridos durante governos de orientação neoliberal e autoritária e a resistência de professores, estudantes e movimentos sociais; e no quarto, refletimos sobre o acesso a cursos estratégicos, a necessidade de políticas ousadas e o papel da universidade como instrumento de emancipação social.
Aos milhões de jovens brasileiros que se preparam para ingressar na universidade, o sonho de estudar em uma instituição pública representa muito mais do que uma conquista individual: é a expressão de uma luta histórica por igualdade, mobilização social e acesso à educação. Até o início dos anos 2000, o perfil dos estudantes universitários era marcado pela exclusão. Predominantemente brancos, de classe média e formados em escolas privadas, esses estudantes refletiam décadas de desigualdade estrutural no país. O Brasil atravessava um período de crise econômica e social, com altos índices de pobreza, baixa escolaridade e um ensino superior fechado às classes populares. Nesse contexto, a universidade permanecia distante do povo que a financiava, reproduzindo privilégios históricos e consolidando desigualdades que se estendiam desde o período colonial e escravocrata.
Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, o ensino superior passou por forte privatização e pouca atenção à democratização. As universidades públicas, em grande parte, mantiveram-se inacessíveis para a população negra, parda, indígena e de baixa renda. As oportunidades para jovens de escolas públicas eram limitadas, o que impedia a mobilidade social e reforçava a exclusão histórica. A educação superior era uma extensão das desigualdades, e o acesso continuava concentrado em elites econômicas e culturais.
Essa realidade começou a mudar de forma significativa a partir de 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A chegada de Lula ao Planalto trouxe esperança popular e colocou o povo na pauta da política educacional. Pela primeira vez, questões de inclusão, diversidade e democratização do acesso à universidade tornaram-se centrais em medidas governamentais concretas. O ENEM, criado anteriormente como uma avaliação externa, ganhou um papel estratégico, deixando de ser apenas uma prova de rendimento escolar e se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior público.
Com a criação do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, em 2010, e a expansão do PROUNI, milhões de jovens de escolas públicas puderam disputar vagas em condições mais justas. Pela primeira vez, a universidade pública começou a se aproximar do povo que a sustenta. Dados do INEP e do MEC mostram que em 2002 apenas 37% dos universitários vinham da rede pública. Entre 2002 e 2015, esse número ultrapassou 50%, enquanto a presença de estudantes pretos e pardos saltou de 20% para cerca de 45%. Esses dados evidenciam que políticas de inclusão e cotas sociais e raciais tiveram impactos concretos, ainda que a democratização permanecesse parcial.
Apesar desse avanço, a presença de estudantes de escolas públicas em cursos estratégicos e prestigiados das universidades públicas, como Medicina, Engenharia e Direito, continua extremamente limitada. Essa concentração demonstra que a desigualdade histórica ainda se reproduz, e que o acesso por si só não garante transformação estrutural. Atualmente, qual a chance de um jovem da escola pública ingressar na USP em Medicina ou Direito? A pergunta não é retórica: revela a necessidade de políticas específicas, de articulação entre governo, movimentos sociais, partidos de esquerda e o movimento estudantil para abrir essas portas historicamente fechadas.
Os cursinhos comunitários, que existem no Brasil há décadas, desempenham papel decisivo nesse processo. Eles ampliaram e popularizaram a ideia de preparar jovens de escolas públicas para o ENEM e vestibulares, oferecendo não apenas conteúdo acadêmico, mas também orientação estratégica, apoio emocional e formação política. Esses espaços funcionam como uma ponte entre a escola e a universidade, ajudando os estudantes a superar barreiras estruturais que a escola sozinha não consegue romper. O CPOP, iniciativa recente do governo Lula, vem reforçar e reconhecer a importância dessas ações, fortalecendo os cursinhos comunitários e sua função de democratizar o acesso à universidade.
No entanto, a democratização do acesso não se deu sem resistências. Políticas de cotas raciais e sociais, bem como a valorização da educação pública, foram usadas por setores da extrema direita como símbolos de ameaça aos privilégios históricos. Esse ódio se articulou com outras disputas políticas complexas, incluindo erros do próprio governo do PT, e se intensificou nos anos seguintes. Manifestou-se de diversas formas, incluindo os ataques que culminaram no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016 e no avanço de governos de orientação neoliberal e autoritária, que promoveram cortes orçamentários e restrições às universidades públicas. Mesmo diante dessas adversidades, a resistência se manteve firme.
Professores, estudantes, movimentos sociais e cursinhos comunitários continuaram a lutar para garantir que a universidade pública não se tornasse refém de interesses econômicos e políticos de elites. O ENEM não é apenas uma prova; ele reflete as contradições e esperanças do Brasil. Cada jovem que se prepara para o exame carrega histórias de superação, resistência e luta. Para a juventude pobre e negra, estudar permanece sendo um ato político, uma forma de afirmar direitos e de desafiar uma sociedade que historicamente os negou.
Essa série parte desse ponto: o sonho da universidade pública como expressão da luta popular por igualdade. Nos textos seguintes, discutiremos os limites dessa democratização, os ataques sofridos durante governos neoliberais e autoritários, a necessidade de políticas de permanência estudantil, e a retomada e expansão de iniciativas que conectem ensino básico, médio e superior ao projeto nacional de educação. Mais do que uma análise histórica, este texto é um chamado à reflexão: o acesso à universidade é apenas o começo; o verdadeiro desafio é consolidar políticas e práticas que permitam aos estudantes permanecer, se formar, ingressar em cursos estratégicos e ocupar posições decisivas na sociedade.
Top 5 da semana

cultura
“Trumporco” abre o carnaval de rua carioca com Luta Antimanicomial
colunistas
A Federação do PSOL com o PT seria um erro
colunistas
Uma crítica marxista ao pensamento decolonial e a Nego Bispo
brasil
Por um Estatuto da Igualdade Racial e uma Política de Cotas que contemple os povos indígenas em toda sua diversidade!
brasil