COP30 sem avanço na demarcação de terras indígenas é fumaça!
Publicado em: 23 de julho de 2025
Joédson Alves/Agência Brasil
Às vésperas de sediar a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), prevista para ocorrer em novembro de 2025 em Belém do Pará, o bioma amazônico encontra-se ameaçado pelas secas mais grave já registradas, pelo avanço do desmatamento e pela incapacidade das lideranças globais e nacionais de superar um modelo de desenvolvimento fracassado.
Apesar do prognóstico otimista do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão vinculado ao Ministério da Defesa, que aponta que a estiagem na região deverá ser mais amena que a registrada nos anos anteriores, estudos conduzidos por pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Laboratório de Sistemas Tropicais e Ciências Ambientais (Trees, na sigla em inglês) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam que a extensão das áreas afetadas e a duração média da estação seca na Amazônia vem aumentado significativamente nas últimas décadas, impulsionadas pelo avanço do desmatamento na região e pelo aumento geral das temperaturas no planeta, o que afeta capacidade da floresta de retirar carbono da atmosfera e liberar o vapor de água necessário para a manutenção dos “rios voadores”, vitais para a regulação do clima no planeta, em especial, na América do Sul.
Em 2024, a seca atingiu 69% dos municípios da Amazônia Legal Brasileira, segundo análise do portal InfoAmazonia, levando o governo federal a reconhecer situação de emergência em todos os 22 municípios do estado Acre. No Amazonas, o Rio Solimões caiu ao seu nível mais baixo já registrado na cidade de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, pelo menos 1.554 comunidades ficaram isoladas somente na região da calha do médio Solimões, segundo a Defesa Civil do Estado do Amazonas. No Pará, em setembro de 2024, pela primeira vez na história, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico declarou situação crítica de escassez hídrica no rio Tapajós e o clima extremo tem prejudicado as colheitas de culturas como a do açaí (base alimentar de inúmeras comunidades tradicionais por todo o nordeste paraense) e da castanha-do-pará (importante fonte de renda para milhares de comunidades extrativistas por toda a região).
De maneira geral, o acesso à água potável, o transporte hidroviário, a agricultura e pesca vêm sendo gravemente impactados pela seca na Amazônia, comprometendo não só a economia da região, mas as mais básicas condições de subsistência de nossa população, além contribuir diretamente para o desequilíbrio climático em todo o território brasileiro e países vizinhos.
As causas das mudanças climáticas na Amazônia
As causas dessas secas sem precedentes são amplamente conhecidas e podem ser resumidas pela combinação de dois principais fatores resultantes da busca irracional e imediatista por lucros cada vez maiores: a destruição da floresta e o aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico.
A destruição da floresta tem como principais impulsionadores: a ampliação descontrolada da atividade madeireira (quase 40% da extração de madeira na Amazônia é irregular, segundo o Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira do IMAZON); a pecuária extensiva de baixíssima produtividade (em 2021 a criação de gado foi responsável por 75% do desmatamento em terras públicas, segundo o IPAM); e o avanço da fronteira agrícola para produção de comodities como a soja e a palma (responsável por conflitos entre multinacionais como a Monsanto e a Brasil Bio Flues com comunidades indígenas no Baixo Tapajós e no Nordeste do Pará, respectivamente).
Já o aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico, fenômeno popularmente conhecido como “El Niño”, que têm aumentado as estiagens no Norte e Nordeste do Brasil ao mesmo tempo em que tem provocado enchentes no Sul e Sudeste do país, é desencadeado pela emissão de gases de efeito estufa resultante da queima de combustíveis fósseis. Sobre este ponto, é importante ressaltar que, segundo o relatório anual sobre a “lacuna de emissões” do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), publicado em novembro de 2023, mesmo que venham a ser cumpridas as metas do Acordo de Paris, pactuado entre os governos de 195 países durante a COP21, realizada em 2017, não seria possível evitar que o aquecimento global atingisse níveis críticos.
E como se não bastasse o cinismo dos líderes mundiais de pactuar metas insuficientes que nem sequer têm sido cumpridas, vivenciamos a ameaça de que, no Brasil, a exploração de reservas de petróleo seja ampliada para a foz do Rio Amazonas, com o governo Lula insistindo na manutenção um modelo de desenvolvimento que já se demonstrou catastrófico.
A importância da demarcação para o enfrentamento das catástrofes climáticas
Neste contexto, os povos indígenas têm se destacado. Somos reconhecidos como mantenedores de práticas socioambientais fundamentais para a recuperação e conservação de diversos ecossistemas que compõem o mosaico amazônico. O que coloca em destaque a necessidade de preservação e disseminação de saberes e práticas ancestrais, como as florestas antrópicas ou jardins florestais, que têm sido cultivados por nós ao longo de milhares de anos e contribuído para manutenção da biodiversidade local, que abarca desde culturas alimentares nativas como o açaí, o cacau, o cupuaçu e a mandioca, até aquelas de interesse medicinal, como a andiroba, a copaíba, o amapá e o jucá, passando por muitas espécies ainda desconhecidas ou subutilizadas, com potencial para solucionar problemas que vão deste a garantia da soberania alimentar para populações em vulnerabilidade socioeconômica até a cura de doenças graves que assolam a humanidade.
Segundo dados do Censo do IBGE de 2022, a população que se reconhece indígena no Brasil é de 1.693.535 pessoas, o que representa 0,83% da população total, presentes tanto em zonas rurais, quanto em zonas urbanas nas cinco regiões do país, uma população que apesar de diminuta, subestimada e invisibilizada pelo poder público, contribui de forma desproporcional para a preservação dos biomas nativos e para o mitigação das catástrofes climáticas. A Amazônia, aliás, além de concentrar a maior parte dos territórios indígenas demarcados, agrega mais da metade dessa população, somos quase 870 mil indígenas resistindo à violência colonial nos nove estados que abrangem a Amazônia Legal Brasileira. Em um estudo realizado em 2015, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia já indicava que as Terras Indígenas (TI’s) registravam o menor desmatamento da região da amazônica, além de apresentarem menos focos de incêndios. Outro estudo, publicado mais recentemente, em 2022, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, intitulado “Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil”, relaciona os territórios indígenas com a presença de uma maior biodiversidade local, onde quer que se encontrem.
Contudo, somos constantemente atacados e acusados pela mídia hegemônica de possuirmos “terras demais” e representarmos um “obstáculo ao progresso do país”. Tais acusações costumam se referir às terras indígenas já demarcadas, que correspondem a apenas 13,8% do território brasileiro, ao passo que pelo menos 33% do território do país é ocupado por pastagens e monocultivos, segundo estudo divulgado pelo Mapbiomas. Em geral, estas áreas nas mãos de ruralistas, latifundiários e do agronegócio são as mais desmatadas, queimadas, erodidas e contaminadas pelos resíduos de adubos químicos e agrotóxicos, enquanto nos territórios indígenas o que se observa é o exato oposto de tudo isso.
A demarcação de terras indígenas demonstra ser uma das políticas públicas mais eficazes para a manutenção do equilíbrio ambiental, tanto dos biomas quanto de suas populações, contribuindo para a regulação do clima em escala global, através da fixação do carbono na biomassa vegetal e da umidade advinda de sua evapotranspiração. Além do manejo florestal comunitário, realizado por povos indígenas e outras comunidades tradicionais, já ter se demonstrado como a forma mais eficiente e sustentável de produção e geração de renda, tanto na prática quando nos estudos acadêmicos.
Ainda assim, apesar do avanço que representou a homologação de 13 terras indígenas pelo atual governo, após seis anos de completa paralisia neste campo, o Brasil ainda conta com mais de 200 terras indígenas sem demarcação, segundo a Associação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). Sem falar nas ameaças de retrocessos legais, como a Lei 14.701/2023 (Lei do Marco Temporal, que não só pode inviabilizar novas demarcações, como abre brechas jurídicas para a contestação de territórios já demarcados) e a tramitação do Projeto de Lei 2.159/2021 (a PL da Devastação, que compromete a prevenção de danos ambientais e enfraquece a capacidade de fiscalização dos órgãos competentes), ambas flagrantemente inconstitucionais.
Sobre o Marco Temporal, em especial, se faz pertinente salientar que, para além de um congresso reacionário e inimigo dos povos indígenas, o próprio governo Lula ignorou os clamores do movimento indígena ao vetar apenas parcialmente o projeto de lei. O veto parcial do presidente já sinalizava o acordo com trechos do projeto tão perigosos e inconstitucionais quanto a própria tese de Marco Temporal, como: o trecho que estabelece que o “interesse da política de defesa e a soberania nacional” eventualmente poderão se sobrepor ao texto constitucional, no que tange a demarcação de terras indígenas; e o trecho que autoriza que comunidades indígenas possam arrendar o território onde vivem para a exploração de não-indígenas, o que pode representar uma brecha legal para a incentivar a invasão de nossos territórios. Tudo isso enquanto o Superior Tribunal de Justiça (STF) insiste em instalar e manter uma Câmara de Conciliação para negociar nossos direitos ao invés de simplesmente reconhecer o caráter inconstitucional da tese do Marco Temporal, como seria o seu dever.
Demarcação é o mínimo, precisamos ir muito além!
Nenhuma outra luta é mais urgente e decisiva para nós, povos indígenas, do que a luta contra o Marco Temporal e em defesa da demarcação imediata de todos os territórios indígenas. A demarcação é condição necessária, porém, não suficiente para atender as demandas históricas da luta indígena no país e assegurar um futuro para toda a humanidade.
Afinal, territórios demarcados não estão livres de ameaças como as invasões e a violência patrocinadas pelo garimpo, pelo agronegócio, pelo narcotráfico, ou pela mera falta de acesso à direitos básicos como saúde e educação. Além disso, questão indígena vai muito além da dura realidade no interior dos territórios demarcados ou em luta por demarcação. A presença indígena nunca esteve restrita aos territórios demarcados e nossas existências jamais estarão reduzidas aos limites territoriais impostos por limites, divisas ou fronteiras, sob o risco de submeter nossa luta legítima pela preservação de nossos direitos e territórios à lógica autoritária e restritiva dos aldeamentos jesuítas e dos campos de concentração. No Brasil, 63,27% da população indígena vive fora dos territórios indígenas, a ampla maioria nas periferias urbanas, esta é uma realidade precisa ser reconhecida e levada em conta na elaboração de políticas públicas voltadas a nós, povos indígenas.
O conceito de território se tornou uma ferramenta fundamental para a resistência indígena na atualidade, sendo a forma que encontramos para tentar impor limites aos avanços do colonizador e preservar outras possibilidades de estar no mundo. Mas nem sempre foi assim, para nossos ancestrais nômades o território era onde nossos pés pisavam, orientados pela consciência dos vínculos que nos unem enquanto partes de um mesmo todo que é a natureza. O termo em tupi antigo para o que hoje se traduz como território é retama, que não encontra sua raiz etimológica em yby (terra/solo), mas em retá (conjunto/coletivo), pois retá é o plural de reté (corpo/indivíduo).
Para além do chão em que pisamos, somos os vínculos que cultivamos. Daí a necessidade de pensarmos a questão indígena para além dos limites dos territórios demarcados e a questão ambiental para além das áreas de preservação, a partir do conceito de tekó, que designa a forma como um determinado povo interage entre si, com os outros e com o território que ocupa. Só assim, poderemos conservar, não apenas territórios demarcados, mas, também, nossa compreensão ancestral sobre como lidar com a natureza e com nós mesmos. Uma compreensão que permitiu os povos indígenas sobreviverem séculos após o nosso próprio “fim do mundo”, a invasão colonial. E talvez, assegurando a conservação de nossos territórios e formas originárias de estar no mundo, os não indígenas também possam aprender conosco a sobreviver ao fim do seu mundo. E juntos possamos nos reencontrar como partes de um mesmo todo para enfim superarmos os desafios que nos são impostos pelas catástrofes ambientais, sociais e climáticas da atualidade.
Top 5 da semana

colunistas
A Federação do PSOL com o PT seria um erro
colunistas
Uma crítica marxista ao pensamento decolonial e a Nego Bispo
movimento
Por um Estatuto da Igualdade Racial e uma Política de Cotas que contemple os Povos Indígenas em toda sua diversidade!
movimento
Não “acorregeia” senão “apioreia”
meio-ambiente










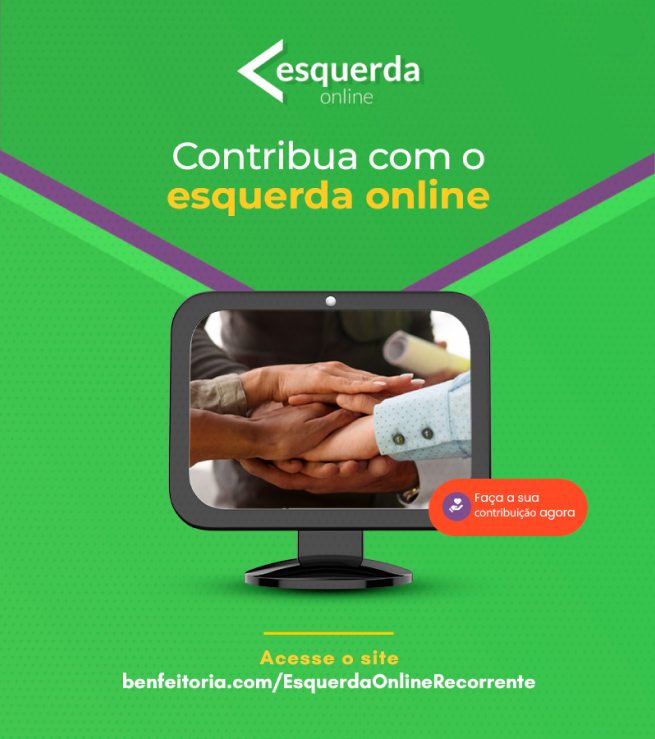


 Nosso papel na COP30
Nosso papel na COP30