No reino da pequena política, estamos sujeitos a grandes erros: sobre as declarações de Lula a respeito da exploração de petróleo na Foz do Amazonas
Publicado em: 17 de fevereiro de 2025
Foto: Ricardo Stuckert/PR
Encontro-me aqui usufruindo do privilégio de escrever essas linhas numa sala refrigerada, enquanto lá fora a sensação térmica na região metropolitana do Rio de Janeiro excede os 50º Celsius (com picos em torno dos 70º) nos últimos dias. 2024 foi o ano mais quente da história da humanidade desde que monitoramos a temperatura de maneira mais sistemática. Já está sendo rapidamente ultrapassada pela realidade a meta do acordo de Paris de limitar (e adiar ao máximo) a elevação da temperatura da Terra a +1,5º Celsius, em relação às temperaturas do período inicial da industrialização, de forma a evitar (ou seria adiar ao máximo?) a elevação em 2º. Em 2015/2016, quando o acordo foi negociado, a expectativa era de que, caso não fossem reduzidas drasticamente as emissões de gases de efeito estufa nos 15 anos seguintes, esses limites poderiam ser atingidos em algum momento entre 2030 e 2050. Pelo visto, tudo está acontecendo ainda mais rápido. Os climatologistas debateram o quanto a ultrapassagem dos 1,5º em 2024 foi influenciada pelo fenômeno El Niño, mas o ano de 2025 já foi aberto com o mês mais quente da história, com temperaturas 1,75º mais elevadas do que aquelas do final do século XIX. E o El Niño já encerrou seus efeitos há meses. Com o ano começando com essa brutal onda de calor em diversas regiões do país, já aguardamos com temor os próximos e inevitáveis eventos climáticos extremos. Petrópolis em 2022, São Sebastião em 2023, todo o estado do Rio Grande do Sul em 2024, são as enchentes mais próximas e fatais que nos vêm à mente. Para não falar das temporadas de secas e queimadas que se sucederam nos últimos anos, com o pico de 2024, quando mais de 30 milhões de hectares – ¾ deles de vegetação nativa – foram queimados no país.
É nesse clima, literalmente, que leio as notícias sobre as críticas de Lula ao Ibama (que seria “um órgão do governo que parece que é um órgão contra o governo”) e às exigências técnicas do órgão – tratadas por ele como “lenga-lenga” – para defender a prospecção de petróleo nos blocos que se encontram em mar aberto na Bacia da Foz do Rio Amazonas em frente à costa do estado do Amapá, como parte da “nova fronteira” petrolífera da chamada “Margem Equatorial” (do RN ao AP). Em suas declarações, Lula afirmou que a etapa ainda é a de autorizar a pesquisa para averiguar a viabilidade da exploração, mas adiantou que defende que a Petrobrás explore petróleo na região, com a justificativa de que é da riqueza oriunda dessa exploração que se fará a “sonhada transição energética”. A declaração foi dada a uma rádio do Amapá e é um claro recado ao novo presidente do Senado, David Alcolumbre (do União Brasil), senador pelo Amapá e defensor ferrenho da exploração de petróleo na região. Na sequência já se especulou sobre a troca do presidente do Ibama e até mesmo sobre a eventual fritura da Ministra do Meio Ambiente (à qual está subordinado o Ibama), Marina Silva, que tem sido apresentada internacionalmente como símbolo do compromisso ambiental do governo, que este ano sediará a conferência do clima (COP30) em Belém.
Eu e outras dezenas de milhões de brasileiros votamos em Lula para derrotarmos Bolsonaro que, entre outras marcas neofacistas, apresentava discursos e práticas negacionistas em relação ao colapso climático e que perseguiu o Ibama e seus servidores para garantir a desregulamentação dos usos predatórios do meio ambiente e fazer “passar a boiada” da destruição ambiental e social que é característica da prática dos setores do capital que lhe deram sustentação.
Por trás da declaração e do raciocínio de Lula está o já velho predomínio da “pequena política”, de ceder às pressões e chantagens para negociar o apoio dos setores mais degenerados no parlamento – vulgarmente conhecidos como “O Centrão” – do qual Alcolumbre é mais um representante. Mas, ao identificar essa rendição à “pequena política”, é preciso localizar onde estaria, por contraste, a “grande política” nessa discussão. Nesse caso, estamos falando da maior e mais urgente questão da grande política na atualidade, um verdadeiro desafio à continuidade da vida civilizada tal qual a conhecemos: frear na medida do possível, mitigar e promover a adaptação necessária da humanidade à catástrofe climática em curso acelerado no mundo em que vivemos.
O citado Acordo de Paris foi visto, desde sua aprovação, como demasiadamente tímido diante do tamanho do desafio que enfrentamos. Mesmo assim, sabemos que nenhuma das grandes potências capitalistas cumpriu integralmente com os compromissos que ali foram firmados e, em tempos de Trump 2, constatamos que a maior e mais poluente economia capitalista do planeta, sequer mantém a assinatura do acordo, de resto já tão desrespeitado.
Esperávamos algo de diferente do governo Lula. Afinal, um dos compromissos assumidos pelo Brasil, quando assinou o Acordo em 2016, era o de reduzir, até este ano de 2025, suas emissões de gases de efeito estufa em 37% em relação aos patamares de 2005. No fim do ano passado, já ciente de que essa meta não seria cumprida – houve redução, mas de apenas 15% –, o governo brasileiro apresentou um novo compromisso, prometendo reduzir as emissões em 59 a 67% (ainda em relação a 2005), até 2035. A maior parte das emissões, no Brasil, é decorrente da mudança do uso das terras e florestas, fundamentalmente através das queimadas para conversão de florestas e outros biomas em área agrícola e de pastagens e foi nesse setor que observamos maiores reduções entre 2005 e 2023 (último ano com dados setoriais disponíveis na plataforma do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa – SEEG). Enquanto em 2005 64% das emissões vinham da mudança do uso do solo, em 2023 esse percentual havia caído para 46%. Em compensação, as emissões do setor agropecuário cresceram em termos absolutos e relativos, passando de 19% do total em 2005, para 27% em 2023. A grande questão, em relação ao que aqui estamos discutindo, é que a participação do setor energético nessas emissões também cresceu, passando de 12% em 2005 para 18% em 2023.
Ou seja, a tão alardeada “transição energética” está longe de ocorrer no Brasil. Apesar de a participação relativa das fontes ditas “renováveis” – entram nessa categoria energia hidráulica, etanol, gás natural, carvão vegetal e outras biomassas, além de eólica e solar (as duas juntas com apenas 4% do total) – na matriz energética brasileira crescer a cada ano no Brasil, chegando a mais de 49% em 2024, a queima de combustíveis fósseis continua a crescer em termos absolutos. Assim, embora a matriz energética brasileira tenha de fato uma participação comparativamente maior das fontes chamadas de renováveis, aqui como no resto do mundo, o capitalismo continua a pisar no acelerador da produção e queima de combustíveis fósseis. Globalmente, a produção energética primária a partir das fontes renováveis expandiu-se 66%, entre 1992 (ano da Rio-92) e 2017. No entanto, se em 1990 os combustíveis fósseis respondiam por 81,19% de toda a energia produzida no mundo, em 2017 eles correspondiam a 81,21%, ou seja, sua exploração continuou crescendo no mesmo período. Essa é a principal razão para que a humanidade emita hoje mais de 180 vezes a quantidade de gases de efeito estufa que em 1850 e, segundo dados de 2022, praticamente o dobro do que emitíamos no fim dos anos 1970. A lógica autoexpansiva da acumulação capitalista assim o exige.
Mas, voltando à nossa questão: o que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas tem a ver com isso? O que o Ibama tem cobrado da Petrobrás são estudos técnicos de impacto ambiental e maiores garantias de prevenção de desastres, numa área que embora relativamente distante da costa (a partir de 160 km da costa do Oiapoque) é influenciada por fortes correntezas e onde foram identificados estuários de diversas espécies marinhas. Os riscos ambientais já são o suficiente para repensar-se a proposta. Porém, o que aqui queremos discutir é: precisamos perfurar mais esses poços de petróleo? Se o Brasil se comprometeu a reduzir emissões em mais de 50% (em relação às taxas de 2005) nos próximos 10 anos e a parcela de fósseis no setor energético é responsável por quase 20% de nossas emissões atuais, seria de se esperar que o planejamento da “transição energética” apresentasse metas de redução da produção e consumo desses combustíveis.
Mantidos os níveis atuais de produção, as reservas já identificadas de petróleo no Brasil garantiriam mais 13 a 18 anos de extração contínua, até 2037, no mínimo, portanto vários anos além do que todas as metas de contenção do aquecimento global definem como o momento em que deveria atingir-se o pico de consumo dos combustíveis fósseis (2030), que teria que declinar drasticamente a partir daí.
Do ponto de vista da Justiça Climática, não se discute o argumento de que às parcelas desiguais de contribuição das nações para as emissões devem corresponder compromissos também distintos de contribuição para a “transição”. Historicamente (desde 1850), os Estados Unidos e os países da União Europeia são responsáveis por quase 40% das emissões globais. Há nações absolutamente carentes de energia. No continente africano, 600 milhões de pessoas não tem acesso à energia elétrica e vários países, apesar de abundantes reservas energéticas, dependem de usinas flutuantes, em navios, para garantir o mínimo do abastecimento local. Estas nações, obviamente, não podem ter metas de redução na produção energética, pelo contrário.
Não é o caso do Brasil. Apesar de sua matriz energética mais “limpa”, em relação à média global, o Brasil é o 9º maior emissor de gases de efeito estufa per capita do mundo, estando acima da média global nesse quesito. E nossa contribuição vai além do que se emite aqui. O país é o 8º maior fornecedor de petróleo bruto no mercado mundial, que constitui hoje a principal mercadoria na pauta de exportações brasileira. Por isso mesmo, o discurso de que a produção do petróleo vai financiar a transição energética parece pressupor que só o Brasil continuará escalando sua produção ou que esse petróleo produzido no Brasil não será queimado, em nenhum lugar do planeta. A contradição é evidente: segundo essa lógica, vamos financiar a transição brasileira, até 2035, fornecendo muito petróleo para ser queimado até lá e depois, dando nossa cota de contribuição, portanto, para inviabilizar a transição em escala planetária (que é o que importa).
Além disso, é preciso avaliar quem extrai petróleo, ou seja, quem lucra com a produção de petróleo no Brasil, para compreender quais setores do capital são beneficiados por decisões como a que está em discussão. Com a quebra do monopólio estatal da extração de petróleo no governo Fernando Henrique e, mais ainda, após 2016, com a abertura completa para empresas privadas participarem da exploração do pré-sal, o capital privado – e especialmente as multinacionais, como a anglo-holandesa Shell, a francesa Total, a estadunidense ExxonMobil e a CNOOC chinesa, entre várias outras – aumentou sua participação no setor, chegando a mais de 35%. A própria Petrobrás, que ocupa os outros 65%, possui uma composição acionária em que o Estado brasileiro, embora detenha a maior parte das ações ordinárias (o que lhe permite nomear a presidência e controlar a maioria da diretoria e conselho de administração), possui apenas 37% do capital total da empresa. Os outros 63% são compostos por 46% de investidores estrangeiros e 17% de capital nacional. Assim, somada a participação direta à participação no capital da Petrobrás, o capital estrangeiro já domina o processo de acumulação de capital na produção de petróleo no Brasil, limitando significativamente as possibilidades de uma política de fato soberana no setor.
As falas de Lula sobre a exploração do petróleo na região da Foz do Amazona, portanto, possuem o significado imediato de reforço à opção por ceder às pressões dos representantes do Centrão para garantir uma frágil e custosa “governabilidade”, que coloca o executivo como permanente refém do voraz apetite da maioria de congressistas. Mais conciliação – política e de classes – em detrimento da mobilização popular para avançar no programa consagrado nas urnas. Seus pronunciamentos também possuem um significado de alcance bem mais longo, do ponto de vista do combate à crise climática. Em meio a “nova era de catástrofes” que atravessamos, a opção por seguir perfurando poços de petróleo, mantendo o ritmo atual de expansão da produção, em desacordo com o melhor do consenso científico e com os próprios compromissos assumidos pelo Brasil é decepcionante para os que votaram em Lula acreditando em seu plano de governo. Nele, estava escrito que, se eleito, o governo Lula iria “mudar o padrão de produção e consumo de energia no país, participando do esforço mundial para combater a crise climática”. Corrigir os rumos do governo, resgatando os compromissos de campanha nessa questão, é essencial. Afinal, como aprendemos com os quatro anos da presidência de Bolsonaro e estamos sendo relembrados com alarde nestas primeiras semanas do segundo mandato de Trump, o aprofundamento da destruição ambiental é uma questão estratégica e programática para a extrema-direita global. Para derrotá-la politicamente, é preciso aplicar o programa inverso.
Mais lidas

psol
Mitos e verdades sobre a federação PSOL/Rede
editorial
Defender Cuba é defender a América Latina
colunistas
Sobre castas e classes sociais
brasil
A Folha não falha na defesa dos poderosos
brasil










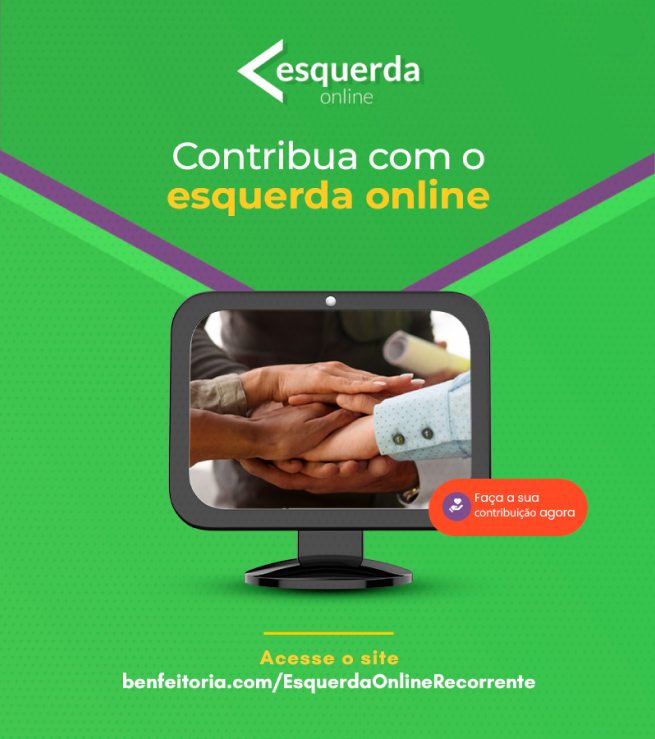


 Nosso papel na COP30
Nosso papel na COP30