O relatório do IPCC: Principais descobertas e implicações radicais
Publicado em: 2 de setembro de 2021
Artigo publicado originalmente no site Climate & Capitalism e traduzido pelo Semear ao Futuro (Portugal).
Além das manchetes: o que a ciência do clima mostra agora sobre o futuro da Terra. Ainda podemos agir a tempo?
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), patrocinado pela ONU, divulgou recentemente o seu mais recente e abrangente relatório sobre o estado do clima da Terra. O tão esperado relatório dominou as manchetes por alguns dias no início de agosto, depois desapareceu rapidamente entre as últimas notícias do Afeganistão, a quarta vaga de infeções por Covid-19 nos Estados Unidos e todos os últimos rumores políticos. O relatório é vasto e abrangente no seu alcance, e é merecedor duma atenção mais focada fora dos círculos científicos especializados do que tem recebido até agora.
O relatório afirma muito do que já sabíamos sobre o estado do clima global, mas fá-lo com muito mais clareza e precisão do que nos relatórios anteriores. Remove vários elementos de incerteza do quadro climático, incluindo alguns que serviram erroneamente para tranquilizar interesses poderosos e o público em geral de que as coisas poderiam não estar tão más quanto pensávamos. As últimas conclusões do IPCC reforçam e fortalecem significativamente todos os avisos mais urgentes que surgiram nos últimos 30 a 40 anos da ciência do clima. Este relatório merece ser entendido de forma muito mais completa do que a maioria dos meios de comunicação tem demonstrado, tanto pelo que diz, mas também pelo que não diz sobre o futuro do clima e suas perspectivas para a integridade de toda a vida na Terra.
Primeiro, algumas informações básicas. Desde 1990, o IPCC tem vindo a divulgar uma série de avaliações abrangentes do estado do clima da Terra, normalmente a cada 5-6 anos. Os relatórios têm centenas de autores, estendem-se por muitas centenas de páginas (este tem mais de 3.000) e representam o consenso científico internacional que emerge desde o relatório anterior. Em vez de lançar um relatório abrangente em 2019, conforme programado originalmente, o IPCC seguiu um mandato da ONU para emitir três relatórios especiais: sobre as implicações do aquecimento acima de 1,5 graus e sobre as implicações específicas das mudanças climáticas para as massas de terras e sobre os oceanos. Assim, o sexto Relatório de Avaliação abrangente (denominado de AR6) está a ser lançado durante 2021–22 e não dois anos antes.
Além disso, o relatório divulgado na semana passada apresenta apenas o trabalho do primeiro grupo de trabalho do IPCC (WGI), voltado para a ciência física das mudanças climáticas. Os outros dois relatórios, sobre impactos climáticos (incluindo implicações para a saúde, agricultura, florestas, biodiversidade, etc.) e sobre mitigação do clima – incluindo medidas políticas propostas – estão programados para serem divulgados em fevereiro e março do próximo ano, respetivamente. Embora o relatório científico básico normalmente receba muito mais cobertura da imprensa, o segundo relatório sobre os impactos e vulnerabilidades do clima costuma ser o mais revelador, descrevendo em detalhe a forma como os ecossistemas e as comunidades humanas sofrerão os impactos das mudanças climáticas.
Em muitos aspetos, o novo documento representa uma melhoria qualitativa em relação aos Relatórios de Avaliação anteriores, tanto no que diz respeito à precisão e fiabilidade dos dados, como também à clareza da sua apresentação. Existem inúmeros gráficos e infográficos detalhados, cada um destacando as últimas descobertas sobre determinado aspeto da ciência climática atual com detalhes impressionantes. Há também um novo Atlas interativo (disponível gratuitamente em interactive-atlas.ipcc.ch), que permite a qualquer visualizador produzir seus próprios mapas e gráficos de vários fenómenos climáticos, com base numa vasta gama de fontes de dados e modelos climáticos.
Se há uma mensagem chave a reter é que a ciência do clima melhorou muito na última década em termos de precisão e grau de confiança das suas previsões. Muitas incertezas subjacentes aos relatórios anteriores parecem ter sido corrigidas com sucesso, sendo exemplo disto a outrora limitada compreensão do comportamento e da dinâmica das nuvens, que era uma importante fonte de incerteza nos modelos climáticos globais. Não só melhoraram os modelos matemáticos, como também temos, agora, mais de trinta anos de medições detalhadas de cada aspeto do clima global que permitem aos cientistas testar a precisão dos seus modelos e também substituir por observações diretas os vários aspetos que antes dependiam muito dos estudos baseados em modelos. Portanto, temos acesso a modelos melhores e também dependemos menos deles.
Em segundo lugar, a compreensão dos cientistas sobre as tendências climáticas históricas e pré-históricas também melhorou muito. Enquanto o terceiro relatório do IPCC em 2001 ganhou as manchetes por apresentar o agora famoso gráfico do “taco de hóquei”, mostrando como as temperaturas médias tinham sido relativamente estáveis por mil anos antes de começarem a subir rapidamente nas últimas décadas, o relatório atual destaca a relativa estabilidade do sistema climático ao longo de muitos milhares de anos. Décadas de detalhados estudos do conteúdo de carbono em núcleos de gelo polar, sedimentos de lagos e oceanos e outras características geologicamente estáveis aumentaram a confiança dos cientistas no forte contraste entre os extremos climáticos atuais e alguns milhões de anos de estabilidade climática relativa.
O ciclo de longo prazo das eras glaciais, por exemplo, reflete mudanças de cerca de 50 a 100 partes por milhão (ppm) nas concentrações de dióxido de carbono atmosférico, em comparação com uma concentração atual (aproximadamente 410 ppm) que é bem superior a um valor de 150 ppm acima da média de um milhão de anos. Precisamos olhar para trás até à última era interglacial (há 125.000 anos) para encontrar um período prolongado de altas temperaturas médias comparáveis às que experimentamos agora e, quanto às atuais concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, acredita-se que sejam maiores do que em qualquer momento, pelo menos nos últimos dois milhões de anos.
Com essas questões gerais em mente, é hora de resumir algumas das descobertas mais diferenciadoras do relatório e, em seguida, refletir sobre suas implicações.
Em primeiro lugar, a questão da “sensibilidade climática” tem sido uma das mais controversas na ciência do clima. É uma medida que estima quanto aumentará a temperatura em resultado de uma duplicação dos níveis de CO2 atmosférico pré-industriais, ou seja, de 280 ppm para 560 ppm. As primeiras estimativas estavam confusas e desorganizadas, dando aos legisladores a margem de manobra para sugerir que é razoável reduzir as emissões mais lentamente ou esperar que novas tecnologias apareçam – desde baterias melhores às técnicas de captura de carbono e até fusão nuclear. Este relatório restringe muito o alcance desse debate, com uma “melhor estimativa” de que dobrar o CO2 produzirá aproximadamente 3 graus de aquecimento – alto demais para evitar consequências extremamente terríveis para toda a vida na Terra.
A sensibilidade climática estará muito provavelmente (mais de 90% de confiança) entre 2,0–4,5 graus e provavelmente (2/3 de confiança) entre 2,5 e 4 graus. Dos cinco principais cenários futuros explorados no relatório, apenas aqueles em que as emissões globais de gases de efeito estufa atingirem seu pico antes de 2050 evitarão esse marco desastroso. Se as emissões continuarem aumentando a taxas comparáveis às das últimas décadas, chegaremos ao dobro de CO2 em 2100; se o aumento de emissões acelerarem ainda mais, isso pode acontecer em apenas algumas décadas, agravando enormemente as perturbações climáticas que o mundo já está a experimentar.
Uma segunda questão chave é quão rápido as temperaturas sobem com o aumento das emissões? É uma relação direta e linear ou os aumentos de temperatura podem começar a estabilizar-se a qualquer momento no futuro previsível? O relatório demonstra que o efeito permanece linear, pelo menos até o nível de 2 graus de aquecimento, e quantifica este efeito com alta confiança. Claro que existem desvios importantes relativamente a este número (1,65 graus por mil gigatoneladas de carbono): os polos aquecem substancialmente mais rapidamente do que outras regiões, o ar sobre as massas de terra continentais aquece mais rápido do que sobre os oceanos e as temperaturas estão subindo quase duas vezes mais rápido durante as estações frias do que nas estações quentes, acelerando a perda de gelo ártico e outros problemas.
É claro que os eventos mais extremos permanecem muito menos previsíveis, exceto no que diz respeito à sua frequência, que continuará a aumentar com a subida das temperaturas. Por exemplo, as temperaturas de três dígitos (escala Fahrenheit) que varreram, neste verão, o Pacífico noroeste dos EUA e o sudoeste do Canadá foram descritas como um evento que ocorre uma vez a cada 50.000 anos em tempos “normais” e ninguém exclui a possibilidade de que ocorram novamente no futuro próximo. Os chamados eventos “compostos”, por exemplo, a combinação de altas temperaturas e condições secas e ventosas que favorecem a propagação dos incêndios florestais, são os eventos menos previsíveis de todos.
A conclusão central do aumento linear geral nas temperaturas em relação às emissões é que nada senão uma cessação completa das emissões de CO2 e de outros gases de efeito estufa poderá estabilizar significativamente o clima, e também que haverá um hiato de pelo menos várias décadas após as emissões cessarem antes que o clima possa começar a estabilizar.
Terceiro, as estimativas que preveem o provável aumento do nível do mar, tanto no curto, como no médio-longo prazo, são muito mais fiáveis do que há alguns anos. Os níveis globais do mar aumentaram em média 20cm durante o século XX e continuarão a aumentar ao longo deste século em todos os cenários climáticos possíveis – cerca de 30cm a mais do que hoje se as emissões começarem a cair rapidamente, quase 60cm se as emissões continuarem aumentando às taxas atuais e cerca de 75cm se as emissões aumentarem mais rapidamente. Essas são, claro, as estimativas científicas mais cautelosas. Em 2150, o alcance estimado é de 60cm a 1,4m , e cenários mais extremos onde o nível do mar sobe de 1,8m a 4,5m “não podem ser descartados devido à profunda incerteza nos processos de manto de gelo”.
Com a expetativa de que o derretimento dos glaciares continue por décadas ou séculos em todos os cenários, os níveis do mar “permanecerão elevados por milhares de anos”, podendo atingir uma altura de 2,4m a 18m acima dos níveis atuais. A última vez que as temperaturas globais eram comparáveis às de hoje durante vários séculos (há 125.000 anos), os níveis do mar estavam provavelmente de 4,5m a 9m mais altos do que os atuais. Quando as temperaturas estavam 2,5 a 4 graus mais altas do que as pré-industriais – há cerca de 3 milhões de anos atrás – os níveis do mar podiam estar até 18m mais altos do que hoje. Convém referir novamente que que todas estas são estimativas cautelosas, baseadas nos dados disponíveis e sujeitas a validação estatística rigorosa. Para os residentes das regiões costeiras vulneráveis em todo o mundo, especialmente para os moradores das ilhas do Pacífico que já são forçados a deixar de utilizar os seus poços de água potável devido às altas infiltrações de água do mar, está longe de ser apenas um problema teórico.
Além disso, pela primeira vez, o novo relatório contém projeções detalhadas para o desdobramento de vários fenómenos relacionados com o clima em todas as regiões do mundo. Há um capítulo inteiro dedicado aos efeitos regionais específicos e é dada muita atenção às formas de como as perturbações climáticas atuam de forma diversa em diferentes locais. “O clima atual em todas as regiões já é distinto do clima do início ou meados do século XX”, afirma o relatório, e espera-se que muitas diferenças regionais se tornem mais pronunciadas com o tempo. Embora cada lugar na Terra esteja a ficar mais quente, há gráficos que mostram como as diferentes regiões se tornarão consistentemente mais húmidas ou mais secas, ou várias combinações de ambos, e em muitas regiões, incluindo o leste da América do Norte, são antecipados eventos cada vez mais extremos de precipitação.
Existem também discussões mais específicas sobre mudanças potenciais nos padrões das monções, bem como impactos específicos em pontos críticos de biodiversidade, cidades, desertos, florestas tropicais e outros locais com características distintas em comum. Vários fenómenos relacionados com secas são tratados em termos mais específicos, com projeções separadas para a seca meteorológica (falta de chuva), a seca hidrológica (lençóis freáticos em declínio) e seca agrícola/ecológica (perda de humidade do solo). Pode-se esperar que todos esses impactos serão discutidos com maior detalhe no próximo relatório sobre impactos climáticos que será lançado em fevereiro.
Existem inúmeras outras observações importantes, muitas das quais se opõem diretamente às tentativas anteriores de minimizar as consequências de impactos climáticos futuros. Para aqueles que querem ver o mundo a focar-se nas emissões não relacionadas com o uso de combustíveis fósseis, o relatório aponta que entre 64% a 86% das emissões de carbono estão diretamente relacionadas à queima de combustível fóssil. Portanto, não há como começar a reverter as disrupções climáticas sem o fim da utilização de combustíveis fósseis. Existem também projeções mais detalhadas acerca dos impactos das forças climáticas de vida curta, como o metano (altamente potente, mas de vida curta em comparação com o CO2), dióxido de enxofre (que neutraliza o aquecimento do clima) e carbono negro (agora visto como um fator substancialmente menos significativo do que antes).
Para aqueles que assumem que a grande maioria das emissões continuará a ser absorvida pelas massas de terra e oceanos do mundo, amortecendo os efeitos futuros na atmosfera, o relatório explica como, com o aumento das emissões, uma proporção cada vez maior de CO2 permanece na atmosfera, aumentando de apenas 30% a 35% em cenários de baixas emissões, até 56% com as emissões continuando a aumentar às taxas atuais e dobrando para 62% se as emissões começarem a aumentar mais rapidamente. Portanto, provavelmente veremos um declínio na capacidade da terra e dos oceanos de absorver uma grande parte do excesso de dióxido de carbono.
O relatório também é mais cético do que no passado em relação aos esquemas de geoengenharia baseados em várias intervenções tecnológicas propostas para absorver mais radiação solar. O relatório prevê uma alta probabilidade de “substanciais alterações climáticas residuais ou supercompensadoras nas escalas regionais e sazonais” resultantes de quaisquer intervenções destinadas a proteger-nos do aquecimento climático sem reduzir as emissões, bem como a certeza de que a acidificação dos oceanos e outras consequências não climáticas do excesso de dióxido de carbono continuariam inevitavelmente. Provavelmente haverá muito mais discussão sobre esses cenários no terceiro relatório deste ciclo do IPCC, que será lançado em março.
Antes da próxima conferência internacional do clima em Glasgow, Escócia, em novembro, vários países se comprometeram a acentuar seus compromissos voluntários climáticos no âmbito do Acordo de Paris de 2015, com alguns países visando agora atingir o pico nas emissões com efeitos climáticos até meados do século. No entanto, isso se aproxima apenas da faixa intermediária das últimas projeções do IPCC. O cenário baseado num pico de emissões em 2050 está justamente no meio da gama de previsões do relatório e mostra o mundo a ultrapassar o importante limiar de 1,5 graus de aquecimento médio no início de 2030, ultrapassando 2 graus em meados do século e atingindo um aumento médio da temperatura entre 2,1 e 3,5 graus entre 2080 e 2100, quase duas vezes e meia o atual aumento da temperatura média global de 1,1 graus desde os tempos pré-industriais.
Aprenderemos muito mais sobre os impactos desse cenário no próximo relatório de fevereiro, mas as terríveis consequências do aquecimento futuro foram descritas em vários relatórios publicados nos últimos anos, incluindo um artigo muito recente especialmente perturbador relatando sinais de que a circulação no Atlântico (AMOC), que é a principal fonte de ar quente para todo o norte da Europa, já mostra sinais de colapso. Se as emissões de carbono continuarem a aumentar às taxas atuais, estaremos a apontar para uma melhor estimativa de um aumento de 3,6 graus antes do final deste século, com uma faixa provável que chega bem acima de 4 graus – muitas vezes visto como um limite aproximado para um colapso completo do sistema climático.
Existem dois cenários de emissões mais baixas no relatório, o mais baixo dos quais mantém o aumento da temperatura no final do século abaixo de 1,5 graus (depois de excedê-lo brevemente), mas uma rápida análise da Technology Review do MIT aponta que este cenário depende principalmente de tecnologias especulativas de “emissões negativas”, especialmente captura e armazenamento de carbono, e uma mudança em direção ao uso em larga escala de biomassa para energia (isto é, plantações e árvores). Sabemos que um uso mais difundido de “culturas energéticas” consumiria vastas áreas da massa terrestre, e que a reflorestação de árvores que são cortadas para queimar e obter energia levaria muitas décadas para absorver a libertação inicial de carbono – um cenário que a Terra claramente não pode suportar.
Os cenários de emissões mais baixas também aceitam a retórica prevalente de “emissões líquidas zero”, pressupondo que métodos mais difundidos de sequestro de carbono, como a proteção de florestas, podem servir para compensar as emissões ainda crescentes. Sabemos que muitos, se não a maioria dos esquemas de compensação de carbono até agora, foram um fracasso absoluto, com os povos indígenas muitas vezes sendo expulsos das suas terras tradicionais em nome da “proteção da floresta”, apenas para ver as taxas de exploração madeireira comercial crescerem rapidamente nas áreas circundantes.
É cada vez mais duvidoso que soluções climáticas genuínas de longo prazo possam ser encontradas sem uma transformação completa dos sistemas sociais e económicos. É verdade que o custo da energia renovável caiu drasticamente na última década, o que é uma coisa boa, e que os principais fabricantes de automóveis estão a planear mudar para a produção de veículos elétricos na próxima década. Mas os investimentos comerciais em energia renovável estabilizaram-se no mesmo período, especialmente nos países mais ricos, e continuam a favorecer apenas os projetos de maior escala que começam a atender aos padrões capitalistas de lucratividade. A produção de combustíveis fósseis, é claro, levou a padrões exagerados de lucratividade no setor de energia ao longo de mais de 150 anos, e a maioria dos projetos renováveis fica aquém destes valores.
Provavelmente veremos mais energia solar e eólica, um apertar mais rápido dos padrões de eficiência de combustível para a indústria automóvel e subsídios para estações de recarga elétrica nos EUA, mas nada como o necessário reinvestimento massivo em energias renováveis à escala comunitária e transporte público. Nem mesmo o histórico plano de reconciliação do orçamento Biden-Sanders que está sendo considerado no Congresso dos EUA, com todas as suas medidas climáticas necessárias e úteis, aborda a magnitude total das mudanças que são necessárias para interromper as emissões até meados do século. Embora alguns obstrucionistas no Congresso pareçam estar a recuar no negacionismo climático aberto que tem impulsionado cada vez mais a política republicana nos últimos anos, não recuaram nas alegações de que é economicamente inaceitável acabar com a poluição com efeitos climáticos.
Internacionalmente, o debate atual sobre a redução das emissões de carbono (a chamada “mitigação climática”) também está longe de abordar a magnitude do problema e geralmente foge da questão de quem é o principal responsável. Embora os Estados Unidos e outros países mais ricos tenham produzido uma parcela esmagadora da poluição histórica de carbono desde o início da era industrial, há uma dimensão adicional ao problema que é mais frequentemente esquecida e que revi com alguns detalhes na minha Introdução a um livro recente (co-editado com Tamar Gilbertson), Climate Justice and Community Renewal (Routledge 2020). Um estudo de 2015 do grupo de pesquisa de Thomas Piketty em Paris revelou que as desigualdades entre países aumentaram até representarem metade da distribuição global das emissões de gases de efeito estufa, e vários outros estudos confirmam isso.
Os pesquisadores da Oxfam vêm estudando essa questão há alguns anos, e o seu relatório mais recente concluiu que os 10% mais ricos da população global são responsáveis por 49% das emissões individuais. Os 1% mais ricos emitem 175 vezes mais carbono por pessoa, em média, do que os 10% mais pobres. Outro par de grupos de pesquisa independentes divulgou relatórios carbónicos periódicos e gráficos interativos traçando perfis de cerca de cem empresas globais que são especificamente responsáveis por quase dois terços de todas as emissões de gases de efeito estufa desde meados do século XIX. Incluindo apenas cinquenta empresas – privadas e estatais – estas são responsáveis por metade de todas as emissões industriais de hoje (consulte climateaccountability.org). Portanto, embora os povos mais vulneráveis do mundo sejam desproporcionalmente afetados por secas, inundações, tempestades violentas e aumento do nível do mar, a responsabilidade recai diretamente sobre os mais ricos do mundo.
Quando o atual relatório do IPCC foi divulgado pela primeira vez, o Secretário-Geral da ONU o descreveu como um “código vermelho para a humanidade” e pediu uma ação decisiva. Greta Thunberg descreveu isso como um “wake-up call” e pediu aos seguidores que responsabilizassem as pessoas no poder. A possibilidade de acontecer com a rapidez suficiente para evitar algumas das piores consequências será uma tarefa dos nossos movimentos sociais e também da nossa disposição em abordar todo o alcance das transformações sociais que agora são essenciais para a humanidade e para toda a vida na Terra continuar a prosperar.
______________________________
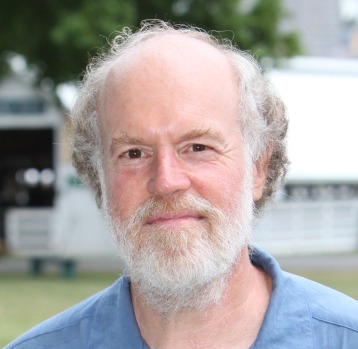 Brian Tokar é o co-editor (com Tamra Gilbertson) de Climate Justice and Community Renewal: Resistance and Grassroots Solutions. É professor de Estudos Ambientais na Universidade de Vermont e membro do corpo docente e diretor do Institute for Social Ecology de Vermont.
Brian Tokar é o co-editor (com Tamra Gilbertson) de Climate Justice and Community Renewal: Resistance and Grassroots Solutions. É professor de Estudos Ambientais na Universidade de Vermont e membro do corpo docente e diretor do Institute for Social Ecology de Vermont.
Top 5 da semana

mundo
Carta aberta ao presidente Lula sobre o genocídio do povo palestino e a necessidade de sanções ao estado de israel
brasil
Paralisação total nesta quinta pode iniciar greve na Rede Municipal de Educação de BH
editorial
É preciso travar a guerra cultural contra a extrema direita
marxismo
O enigma China
mundo












