Entrevista com Sue Ferguson: Mulheres, trabalho e o “confronto direto com o poder capitalista”
Publicado em: 20 de março de 2020
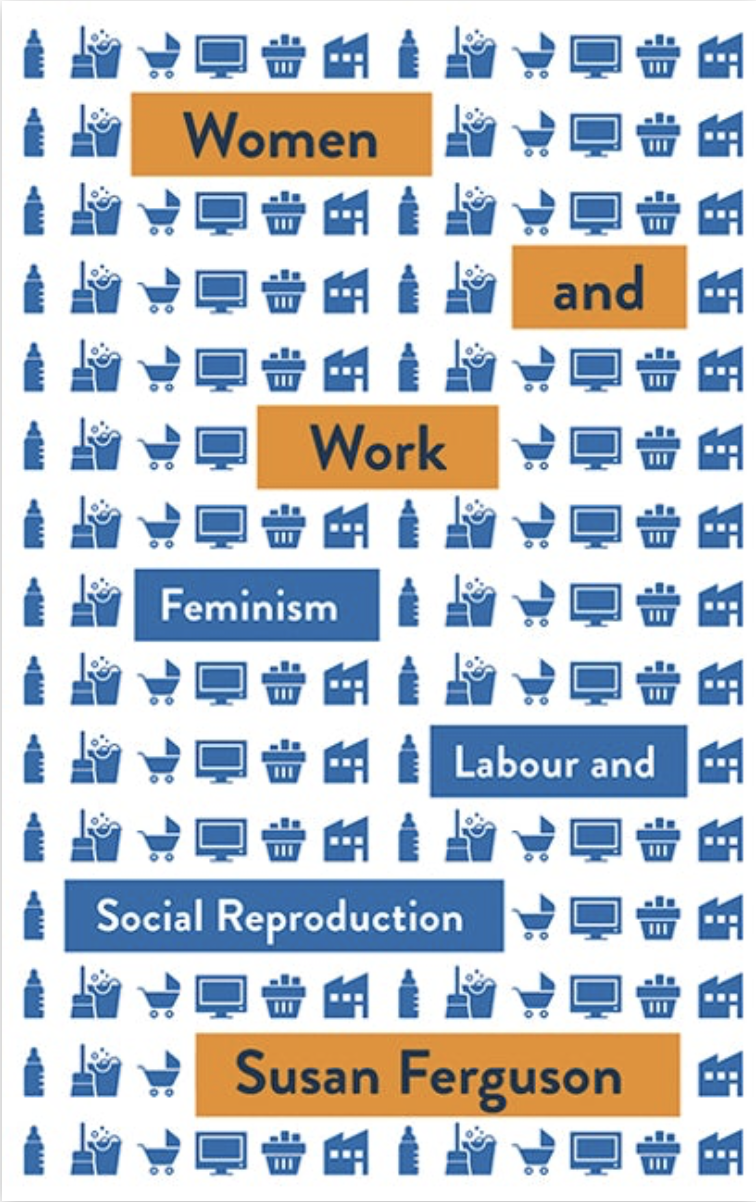 Embora feita semanas atrás, esta entrevista foi publicada em meio a uma pandemia que expõe e agrava uma profunda crise de reprodução social. Nesta edição, Seth Uzman entrevista Sue Ferguson, feminista socialista de Houston, autora do recente livro Mulheres e Trabalho: Feminismo, Emprego e Reprodução Social, sobre feminismo socialista, infância no capitalismo e lutas sociais contemporâneas. Suas outras entrevistas recentes ao New Socialist (Canadá) e ao Democratic Socialists of America podem ser encontradas aqui e aqui.
Embora feita semanas atrás, esta entrevista foi publicada em meio a uma pandemia que expõe e agrava uma profunda crise de reprodução social. Nesta edição, Seth Uzman entrevista Sue Ferguson, feminista socialista de Houston, autora do recente livro Mulheres e Trabalho: Feminismo, Emprego e Reprodução Social, sobre feminismo socialista, infância no capitalismo e lutas sociais contemporâneas. Suas outras entrevistas recentes ao New Socialist (Canadá) e ao Democratic Socialists of America podem ser encontradas aqui e aqui.
O que a motivou a escrever este livro?
Mais diretamente, o livro foi desenvolvido a partir de um capítulo para um livro da Boomsbury sobre teoria feminista. Pediram-me que escrevesse sobre teorias feministas do trabalho e, quando comecei, percebi que havia muito mais a dizer do que o que poderia ser condensado em um breve capítulo.
Mas eu estava entusiasmada com esse pedido por causa do ressurgimento internacional do interesse pelas idéias e políticas feministas da época. Pareceu-me importante tentar esclarecer como diferentes idéias sobre o trabalho das mulheres informam diferentes políticas feministas. Muitas feministas na época depositavam suas esperanças em Hilary Clinton derrotar Donald Trump, enquanto o manifesto feminista corporativista de Sheryl Sandberg, Faça acontecer: mulheres, trabalho e a vontade de liderar, estava nas listas de mais vendidos. Outras feministas estavam nas ruas, da Polônia à Argentina, e, além de pedirem o fim da violência contra as mulheres, exigiam direitos reprodutivos – demandas que refletem alguns dos principais problemas que as mulheres trabalhadoras enfrentam, tanto no trabalho remunerado quanto não remunerado, em seus lares e comunidades. Além de tentar entender essas estratégias feministas diferentes e às vezes contraditórias, eu queria enfatizar que a maneira como se compreende o trabalho feminino é importante quando se trata de descobrir quais estratégias políticas melhor favorecem a liberdade das mulheres da classe trabalhadora. E eu esperava poder convencer os leitores de que a teorização feminista do trabalho da reprodução social explica por que uma política feminista anticapitalista, socialmente inclusiva, é necessária e possível.
Junto com a insurgência feminista em todo o mundo, incluindo Ni Una Menos, a Greve Internacional de Mulheres (IWS), o protagonismo feminista no Chile, Sudão, Líbano, Iraque, Índia e assim por diante, também se seguiu uma nova onda de escrita feminista socialista. Dentro de um fluxo, como devemos posicionar o livro Mulher e Trabalho em relação a contribuições recentes, como o Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Opression (para o qual, é claro, você contribuiu) e o Manifesto pelo Feminismo para os 99%?
Eu vejo os três livros como tentativas de entender e desenvolver esse interesse renovado em um feminismo inclusivo, ativista e intrinsecamente anticapitalista. Enquanto o Social Reproduction mostra a relevância dessa abordagem específica para as análises políticas e teóricas contemporâneas, e o Feminismo para os 99% coloca em primeiro plano suas lições políticas na construção do movimento, meu livro retoma, de certa forma, um esforço para orientar os leitores sobre de onde tudo isso veio. Situa a teoria da reprodução social na longa duração do pensamento feminista e distingue seu surgimento e desenvolvimento do conjunto dominante de idéias da tradição feminista socialista (que eu chamo de “feminismo da igualdade crítica”). O livro, no entanto, não é simplesmente um retrospecto. Ele oferece essa contextualização histórica como uma maneira de esclarecer como as premissas do feminismo da reprodução social levam a conclusões políticas específicas que são mais fortemente anticapitalistas e mais socialmente inclusivas do que outras abordagens encontradas nas tradições feministas liberais e socialistas. E pondero que seus pontos fortes a esse respeito decorrem da capacidade da tradição de refletir sobre seu próprio legado e de se envolver criticamente com outras tradições, principalmente – ainda que tardiamente – com o feminismo antirracista.
Há uma conversa perene de uma “crise de visão na esquerda” e o pensamento socialista utópico não tem uma boa recepção na tradição marxista. Mas seu trabalho parece descobrir um contorno feminista insurgente e imanentemente engenhoso, ainda que desvalorizado e atacado, dentro dessa herança?
Eu acho que isso é verdade em dois sentidos. Primeiro, argumento que os primeiros teóricos do feminismo da reprodução social foram os socialistas utópicos pré-marxistas do século XIX Anna Wheeler e William Thompson. Escrevendo cerca de 30 anos depois de Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher (1792), de Mary Wollstonecraft, Wheeler e Thompson mudaram a discussão sobre o trabalho das mulheres de um plano principalmente moral para um plano econômico mais científico ou político. Eles o fizeram insistindo que o trabalho não remunerado das mulheres em casa seja considerado uma contribuição para a riqueza social geral. Ou seja, a visão socialista utópica mais avançada para a emancipação das mulheres repousa em uma análise completamente científica do capitalismo.
Mas, segundo – e acho que isso é mais do que como você está lidando com essa questão – defendo que os espaços utópicos e os momentos de desalienação são imanentes nas relações capitalistas cotidianas, dentro e fora das esferas do trabalho remunerado. Esses espaços podem existir porque o trabalho humano nunca é apenas um trabalho alienado. Muitas críticas marxistas cometem o erro, penso, de tratar o valor capitalista como algo que é produzido apenas através da exploração direta do trabalho assalariado possibilitado por processos de abstração. Esquece ou ignora o fato de que o trabalho sob o capitalismo é, como Marx argumentou, bilateral. Simplesmente não pode haver trabalho abstrato sem trabalho concreto. Ou seja, a força de trabalho que eu vendo para o Google ou a H.E.B. é abstraído do trabalho real que faço para essas empresas, que é quantificado e tornado equivalente a todos os diferentes tipos de trabalho através da lógica competitiva do mercado capitalista, no processo de criação de valor e lucro capitalistas. No entanto, minha força de trabalho nunca poderá ser extraída de mim, a menos que meu corpo particular, concreto, interaja com o mundo de maneiras particulares, concretas. A força de trabalho, Marx nos lembra, é uma mercadoria diferente de qualquer outra precisamente porque está ligada aos seres humanos. E é porque os seres humanos são seres imaginativos, práticos (seres que produzem o mundo em que vivem), que não podem ser totalmente dominados pelo impulso capitalista de produzir valor.
E essas contradições também podem marcar politicamente lutas?
O feminismo da reprodução social começa com esse trabalhador encarnado, e não com o trabalho abstrato. Ao fazê-lo, é menos inclinado a perder de vista a dualidade do trabalho e o que isso implica na capacidade dos trabalhadores de resistir ao capitalismo. Ao trabalhar para o capital, Marx nos diz, as pessoas se alienam umas das outras, das coisas que fazem, da natureza e de sua própria humanidade (ou espécie). No entanto, ao mesmo tempo, eles têm e procuram atender a necessidades concretas, historicamente evoluídas – necessidades que excedem e contradizem a incansável busca do capitalista por acumulação e despossessão. Por exemplo, os corpos precisam dormir e fazer pausas para comer e beber. Eles precisam socializar, exercitar-se, imaginar, aprender, ensinar, criar, brincar, expressar amor, cuidar dos outros e fazer sexo. Esses aspectos da vida humana não desaparecem quando as pessoas trabalham – por um salário ou não, sejam trabalhadores “capitalisticamente produtivos” (ou seja, produtores de mercadorias) ou trabalhadores sociais de reprodução. Eles são suprimidos, compartimentados e adiados (em diferentes graus, dependendo do tipo de produção e local de trabalho, como discuto no livro). Mas enquanto os trabalhadores também são humanos (seres que podem interagir imaginativa e fisicamente com o mundo ao seu redor), eles têm o potencial de enfrentar e desafiar sua alienação. Eles podem reorganizar ou até interromper o trabalho produtivo e reprodutivo do dia-a-dia para melhor atender às suas necessidades – seja desafiando o limite de tempo do chefe nos intervalos dos banheiros, dormindo na sala de aula ou perdendo as aulas, criando um programa alimentar comunitário ou ocupando o cargo de político. escritório para parar uma deportação. E, às vezes, seus esforços criam momentos utópicos dentro da distopia capitalista, momentos em que uma nova maneira de viver e trabalhar no mundo pode ser vislumbrada.
Tais momentos raramente são coletivizados e politizados, é claro. Mas eles podem ser. E, como afirmo no livro, é mais provável que sejam nessas comunidades e locais de trabalho em que o trabalho que está sendo realizado (remunerado ou não) não é diretamente governado pela lógica capitalista da acumulação – ou seja, em locais onde a produção da vida (ensinando, curando, alimentando, vestindo, cuidando etc.), não as coisas, é o objetivo do trabalho. Não apenas esses momentos podem ser coletivizados e politizados, mas devem ser, se nós, como socialistas, ganharmos alguma tração na construção da solidariedade de que precisamos para derrubar o capitalismo.
Essa compreensão dos momentos utópicos está relacionada, mas é distinta do argumento feminista da reprodução social de autoria de pessoas como Silvia Federici ou Kathi Weeks. Elas enfatizam a importância de modos desalienados de estar no mundo, mas eles tendem a desaparecer em função da dominação do capital no processo de produção (incluindo a reprodução social assalariada e não assalariada). No entendimento delas, a dinâmica capitalista está totalizando, transformando todo trabalho em trabalho abstrato e produtivo para o capital. Para ir além do capitalismo, a classe trabalhadora então deve criar espaços alternativos e pré-figurativos, como cooperativas de trabalhadores ou cozinhas comunitárias.
“Comuns” dessa natureza podem ser coisas maravilhosas em si mesmas, e certamente podem ser aspectos essenciais da construção da consciência de classe. Mas, como estratégia para combater o capitalismo, são praticamente impraticáveis para a grande maioria das pessoas comuns. E, ao colocar uma ênfase muito grande na construção de tais espaços, corre-se o risco de negligenciar a importância de apoiar e construir solidariedade entre espaços e movimentos dentro de nossas vidas cotidianas no capitalismo – aqueles espaços e movimentos em que as pessoas já estão envolvidas em esforços para socializar (e desalienar) a vida e o trabalho. Para questões como protestos em comunidades por melhores moradias, greves no local de trabalho, greves de mulheres e defesas de terras indígenas, todos podem reunir as pessoas de maneiras que rompam as barreiras entre elas e ofereçam vislumbres de modos alternativos e não capitalistas de ser. Reconhecer esses espaços utópicos dentro do capitalismo e o potencial para expandi-los e politizá-los é importante se se pretende criar movimentos de massa verdadeiramente capazes de confrontar diretamente o poder capitalista.
No livro você argumenta que, embora o feminismo de igualdade crítica seja insuficiente, o feminismo de reprodução social rompe corretamente com a família e situa a opressão das mulheres na relação contraditória entre a produção de mercadorias e a reprodução da vida. Por figurar com menos destaque no livro, você poderia falar sobre o status e o papel do estado capitalista nessa narrativa e nesse feminismo renovado da reprodução social?
Eu não diria que o feminismo da reprodução social rompe com a família, mas a reposiciona. Ou seja, as primeiras feministas socialistas (incluindo algumas feministas da reprodução social) viam o lar como o local crucial da opressão das mulheres e se comprometeram a analisar sua dinâmica patriarcal interna. Então Lise Vogel apareceu e argumentou que, em vez de olhar apenas para sua dinâmica interna, precisávamos pensar mais sistematicamente sobre o papel da família na reprodução do capitalismo (sobre a relação entre a família e a dinâmica capitalista da produção de valor), e como e por que as mulheres estão envolvidas nessa relação da maneira como são.
E, quando fazemos isso, vemos como é importante lidar com o papel do estado. Por ser um tópico tão grande, só consigo esboçar alguns pensamentos aqui, sabendo que ainda há muito a ser dito sobre o estado e a reprodução social.
Para começar, o estado é central precisamente porque o capital requer, mas não fornece adequadamente, as atividades de reprodução da vida da classe trabalhadora. Ou seja, a única coisa que o capital não pode prescindir é da força de trabalho humana – pois a força de trabalho é a fonte de criação de valor. E como a força de trabalho, como mencionei acima, está muito ligada aos seres humanos, o capital precisa da reprodução da vida humana, dos trabalhadores. Além disso, esses trabalhadores devem ser reproduzidos em um nível sócio-histórico (em termos de educação, aptidão física e assim por diante). Ao mesmo tempo, a busca do capital por lucros significa que ele deve insistir incansavelmente contra as garantias de vida; deve manter baixos os salários e impostos que entram em questões como escolaridade e assistência médica. É por causa dessa relação contraditória entre vida e capital que o capital recorre ao Estado para organizar e controlar os processos de reprodução social. O Estado faz isso tanto como empregador quanto moldando o espaço público sobre o qual ocorre muito trabalho reprodutivo social. Ele molda esse espaço através de suas leis, alocação de recursos e funções de policiamento, militar e judicial.
O estado organizou a reprodução social desde o início do capitalismo. Pense, por exemplo, em como a evolução do direito da família, da educação obrigatória e das leis de vadiagem (para citar alguns) impuseram, sustentaram e alteraram a capacidade das pessoas que trabalham para se manterem e se reproduzirem ao longo dos tempos. O mesmo vale para a legislação sobre jornada de trabalho e outras regulamentações trabalhistas, imigração, cidadania, educação, crimes, moradia, saúde e assim por diante. O mesmo acontece com o policiamento, a guerra e a expansão colonial. Embora seja verdade que o capitalismo impede a reprodução social do trabalho nos domicílios particulares, ele não deixa simplesmente essa tarefa para os indivíduos dentro desses domicílios. Pelo contrário, depende fortemente do estado capitalista para gerenciá-lo.
E, historicamente, ao administrar a reprodução social, o estado mostrou uma forte tendência a recorrer e reforçar as opressões sociais existentes. Ou seja, legislação, alocação de recursos e práticas de policiamento relacionadas a todas as áreas que acabei de mencionar contribuem para reproduzir uma população socialmente diferenciada, cujos níveis variáveis de degradação são usados para manter a maioria dos trabalhadores em uma situação precária em relação ao capital. Eu chamo isso de tendência, porque essa não é uma lei absoluta da reprodução social. A teoria da reprodução social nos diz que a relação do capital com a reprodução dos trabalhadores é contraditória. Por um lado, o capital deve manter os custos dessa reprodução o mais baixo possível; por outro lado, o capital exige absolutamente que os trabalhadores sejam reproduzidos (e em um determinado nível sócio-histórico) – e, portanto, não pode gerar custos tão baixos que ameacem a ampla disponibilidade de trabalhadores exploráveis.
Que tipos de conclusões estratégicas se seguem a esse relato?
É da natureza do Estado capitalista liberal se distanciar das ações diretamente requisitadas pelo capital, enquanto ainda age em seu nome (como Ralph Miliband colocou em seu livro de 1983, Class Power and State Power). Por esse motivo, as leis e instituições do estado podem e frequentemente criam espaço e tempo para promover a produção da vida além dos processos de apropriação da vida que satisfariam os estreitos interesses econômicos do capital. Ou seja, o estado tem capacidade de dedicar mais fundos à iluminação pública, festivais de música, programas de café da manhã para estudantes e aulas de idiomas para imigrantes do que colocar policiais nas escolas ou dar subsídios aos incorporadores imobiliários. Por esse motivo, enfrentar o Estado é uma estratégia de resistência legítima, potencialmente produtiva e importante. E qualquer coisa que consiga mais recursos para a criação de vidas fora do estado capitalista é uma vitória contra o próprio capital.
Ao mesmo tempo, ninguém deve ser enganado a pensar que o Estado pode ou irá reverter ou perturbar seriamente os processos capitalistas de acumulação e desapropriação. Não é apenas a parcela do estado do próprio sistema que se baseia na exploração (e, portanto, na desapropriação e privação) das pessoas da classe trabalhadora, mas a história nos mostra repetidamente quão seriamente o estado leva o mandato para reproduzir uma força de trabalho aceitável ao capitalismo. Por que mais isso despejaria bilhões de dólares no policiamento das populações pobres, raciais e indígenas, ou na perseguição dos chamados imigrantes ilegais e na manutenção de crianças imigrantes em centros de detenção? Ainda assim, o estado precisa ser engajado como parte da luta contra o capitalismo. Como as políticas e instituições do Estado tendem a reforçar, em vez de erradicar o racismo, o capacitismo, o cis-heterossexismo, o colonialismo e assim por diante, é de vital importância criar solidariedade entre os movimentos sociais ativistas que exigem do Estado, sem nunca perder de vista o fato de que o estado está finalmente gerenciando a reprodução social do trabalho pelo capital. Não apenas essa solidariedade pode ser fundamentada no impulso comum de afirmar a importância da vida sobre o capital, mas é através da luta com o Estado que as pessoas podem desenvolver as idéias e estratégias necessárias para remodelar os processos de criação de vida de maneiras novas e melhores.. E, precisamente por serem seres imaginativos e práticos, também podem começar a remodelar as práticas e instituições de criação da vida em sua organização e resistência.
No livro, você destaca uma fórmula fascinante e precoce da Internacional da classe trabalhadora da feminista socialista Flora Tristan – com quem você se envolve criticamente. Com o recente surgimento de uma Internacional Feminista no contexto do IWS, o que você acha do retorno potencial da Internacional como forma organizativa e em um tempo especificamente feminista?
Tristan é brilhante em sua previsão sobre a necessidade de organizar a classe trabalhadora de maneira a quebrar as barreiras que o capitalismo impõe entre as pessoas. Ela defendeu uma organização internacional da classe trabalhadora antes de Marx ou Engels. E, significativamente, ela argumentou o dever de inclusão das mulheres. No entanto, a organização dela não era o que eu chamaria de Internacional verdadeiramente feminista. Lutar contra a opressão das mulheres, na sua opinião, deveria ser uma adição a uma iniciativa de classe; não fazia parte da definição dessa iniciativa.
Como alternativa, as autoras do feminismo para os 99%: um manifesto, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser, redefinem a luta de classes como uma luta feminista. Seu trabalho como teóricas e organizadoras da Greve Internacional das Mulheres reflete e desenvolve o recente surgimento de um novo tipo de movimento feminista que vimos nas ruas da Polônia, Argentina, Chile, Sudão, Líbano e muitos outros. outros países onde as mulheres saíram às ruas para lutar por tudo, desde o transporte público e o direito de controlar seus corpos, a mudança de regime político e reivindicações de terras indígenas. Como Arruzza escreveu em outro lugar, esses protestos constituem uma “terceira onda” apropriada do feminismo, que, em seu desafio diante dos regimes neoliberais, é incipiente, quando não explicitamente, anticapitalista. É, como tal, a base ideal para construir uma Internacional verdadeiramente feminista. E certamente estão sendo feitos vínculos entre esses movimentos, com traduções de artigos e livros (o feminismo para os 99%, por exemplo, foi traduzido para 30 idiomas), e oradoras circulando internacionalmente. E houve greves pouco coordenadas em 8 de março desde 2016, que poderiam, em teoria, se transformar em uma expressão mais formalmente organizada de uma Internacional feminista. Mas é claro que é difícil saber por quanto tempo as lutas podem ou serão sustentadas ou crescerão. Certamente as condições que os geraram não vão desaparecer, e houve vitórias em lugares suficientes para manter as pessoas inspiradas por enquanto.
Outra área que você também explorou anteriormente é o caráter da infância no capitalismo. Em The Social Reproduction Theory, você argumentou não apenas que existe uma contradição entre a reprodução social da infância e as necessidades disciplinares do capital, mas também – relacionando aos argumentos que você adota em Mulheres e Trabalho – que a distância relativa da infância ao controle direto capital representa um espaço de subversão que os adultos reconhecem como uma maneira alternativa de ser. Como podemos posicionar essa postulação à luz do movimento Greve Climática da Juventude liderado por estudantes do ensino fundamental e médio, no momento em que até pais e sindicatos estão atrás deles?
Fico feliz que você tenha feito essa pergunta, pois estou começando a pesquisar sobre a greve climática da juventude para uma palestra que vou dar em abril na Universidade de Houston, supondo que a crise do Covid-19 tenha sido resolvida até lá. Escolhi esse tópico precisamente porque ilustra muito bem algo que venho tentando articular há algum tempo sobre a reprodução social das infâncias capitalistas. As infâncias capitalistas são verdadeiramente espaços e tempos complexos e contraditórios, caracterizados por um conflito entre a reprodução de si mesmo como um ser humano sensual, criativo (isto é, brincalhão), por um lado, e como um futuro trabalhador explorável (o que suprime muita criatividade humana e sensualidade) por outro. A maneira como isso ocorre difere de acordo com a localização social, histórica e geográfica de uma criança, mas todas as crianças negociam essa contradição em algum nível no dia-a-dia. E, em muitos casos, em nosso mundo capitalista tardio, as crianças são esperadas e incentivadas a expressar sua brincadeira, embora em um grau limitado. Sua capacidade de estar neste mundo como seres lúdicos e não como trabalhadores, implica desrespeitar as relações capitalisticamente alienadas com os outros e com as coisas e o mundo ao seu redor. (É significativo, eu acho, que isso é algo que tende a confundir ou perturbar muitos adultos. Por um lado, eles defendem, idealizam e até comemoram a brincadeira infantil; por outro, temem, detestam e tentam conter e controlar isto.)
Então, de certa forma, é disso que se trata a Greve Climática da Juventude: crianças e jovens interrompendo os regimes usuais de reprodução social (escolaridade), apropriando-se criativa e sensualmente dos espaços e tempos do cotidiano da capital. Com isso, quero dizer, os grevistas usam regularmente sua imaginação e seus corpos mais como jogadores do que como trabalhadores (ou futuros trabalhadores) – recusando-se a se submeter à disciplina de sentar nas salas de aula e, em vez disso, sairem para as ruas, entrarem nas vias de trânsito, nas escadas do Parlamento sueco ou na calçada em frente ao prédio das Nações Unidas em Nova York. Dessa maneira, eles desviam o espaço (a “distância relativa”, como você diz) que o capitalismo fornece para que eles sejam crianças (ou seja, seres brincalhões) contra o próprio sistema.
Isso claramente assusta aqueles adultos que têm ou acham que têm muito a perder se o capital não tiver carta brnaca sobre a nossa ecologia. Vemos isso em alguns editoriais e, especialmente, na reação odiosa da direita contra Greta Thunberg, a adolescente que inspirou o movimento da Juventude pelo Clima. Seus ataques raivosos e sexistas ilustram quão profundamente os adultos podem desprezar o que os corpos e as vozes das crianças são capazes de fazer. E mostram também como é aceitável destruir publicamente crianças e jovens.
Mas a greve climática da juventude também reverbera profundamente em muitos, provavelmente na maioria dos adultos. Acho que isso ocorre em grande parte porque os adultos também reprimiram seu eu brincalhão – suas capacidades de viver sensualmente e imaginativamente – para sobreviver como trabalhadores do capitalismo. Portanto, eles podem se identificar e celebrar a espontaneidade, a alegria e a socialidade que testemunham nos protestos e protestos. E a greve reverbera em muitos pais, professores, cientistas, políticos e outros adultos também, porque é um ato de afirmar o valor da vida sobre o capital. Talvez a nova-iorquina de oito anos de idade, Amanda Cabrera, tenha dito isso melhor em uma entrevista para um vídeo do Washington Post: “Qual é o sentido de frequentar a escola se não houver necessidade? Não precisaremos de educação se não tivermos um mundo. Então, qual é o objetivo?”. Esse desejo de priorizar a vida e a criação de vida (ou a reprodução social) é algo que tem o potencial de unir não apenas adultos e crianças, mas também pessoas de todos os tipos, origens e identidades. Portanto, cabe à esquerda socialista apoiar e construir as organizações e movimentos anti-opressão, anticapitalistas nutrir e fortalecer essa base de unidade.
Link original:
Women, Work and “Directly Confronting Capitalist Power” | Interview with Sue Ferguson
Top 5 da semana

colunistas
A Federação do PSOL com o PT seria um erro
colunistas
Uma crítica marxista ao pensamento decolonial e a Nego Bispo
movimento
Por um Estatuto da Igualdade Racial e uma Política de Cotas que contemple os Povos Indígenas em toda sua diversidade!
movimento
Não “acorregeia” senão “apioreia”
meio-ambiente












