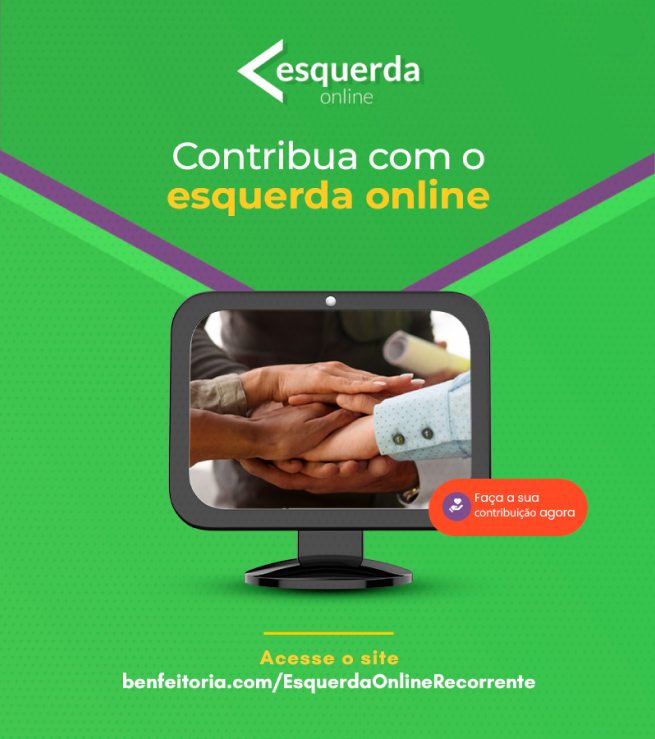Indústria Americana: como o documentário que ganhou o Oscar apresenta um mundo familiar, ainda que novo
Publicado em: 20 de fevereiro de 2020
Muito se falou no Brasil sobre a presença do documentário de Petra Costa, “Democracia em Vertigem” na lista dos indicados ao Oscar, mas relativamente pouca atenção foi dada ao vencedor da categoria: “Indústria Americana”. Também uma produção Netflix, o filme é resultado de parceria com a Higher Ground, produtora do casal Obama. Ele apresenta ao espectador uma narrativa bastante íntima sobre o passado recente da cidade de Dayton (entre 2015 e 2017), no estado de Ohio. Alguns anos após uma fábrica da General Motors fechar as portas, a cidade recebe uma nova fábrica da Fuyao, uma corporação chinesa que produz vidro para carros.
A história que se desenrola a partir daí é, em muitos sentidos, bastante familiar. O momento inicial – a abertura da fábrica – é um trecho de sorrisos, abraços, e discursos de esperança sobre criação de empregos, projeções de lucros, e a importância do empreendimento como símbolo de aproximação entre China e Estados Unidos em contexto de animosidade entre os dois países. Esse otimismo inicial é pontuado por momentos de estranhamento cultural entre a direção chinesa da companhia, personificada pelo CEO Cao (curiosamente chamado de “Chairman” – o mesmo título atribuído aos líderes do Partido Comunista Chinês), e a gerência americana que lidera o empreendimento em Ohio.
Gradualmente, as tensões inerentes ao conflito de classes ocupam o centro da narrativa. A crescente insatisfação dos trabalhadores com os baixos salários e com o descaso da companhia por normas de segurança os leva, em pequenos passos, à discussão sobre representação sindical. Por outro lado, os lucros da fábrica em Dayton ficam abaixo do esperado, o que é atribuído pelo Chairman Cao (e por outros líderes da Fuyao) a diferenças culturais entre os trabalhadores chineses e americanos. Tanto gerentes chineses quanto americanos aparecem em cena lamentando diversas características atribuídas aos trabalhadores de Dayton, como seus “dedos gordos” que os tornam “mais lentos”, ou o fato de que eles “só pensam em dinheiro” enquanto os trabalhadores chineses “se esforçam pela companhia e pela pátria”, e precisam “provar que merecem” seus salários.
O documentário é extremamente rico e, assim como “Democracia em Vertigem”, suscita uma infinidade de debates – não apenas pelo que mostra, mas também pela construção da narrativa. Importante lembrar, por exemplo, que a relação com a China é uma das principais pautas da política externa estadunidense conduzida a ferro e fogo por Trump e seus comparsas. Neste cenário, o envolvimento do casal Obama em um documentário que aborda a presença chinesa nos EUA não pode passar despercebido – ainda que a mensagem do documentário seja mais sobre a importância do fortalecimento dos sindicatos do que uma crítica à “guerra comercial” contra a China. Por outro lado, no âmbito das relações de classe de forma mais estrita, merece nota a forma como “Chairman Cao” personifica tanto a ideia do capitalista industrial que despreza a vida dos trabalhadores pelo lucro, quanto o “líder comunista totalitário” que exige dos “cidadãos chineses” uma disciplina rígida e dedicação integral à pátria e à empresa. Fosse o filme obra de ficção, Cao seria certamente criticado como um personagem caricato.
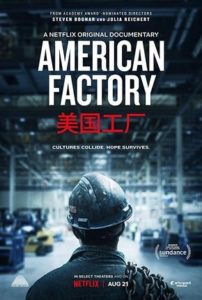 Em meio a tantos pontos levantados pelo filme, acho que dois merecem atenção especial. O primeiro deles é justamente a questão da “disciplina” e do “comprometimento” exigido dos trabalhadores. Em determinado momento, um grupo de gerentes estadunidenses visita o que parece ser a sede da Fuyao na China. Lá, fica nítido o encantamento deles com a disciplina militarizada imposta nas fábricas na companhia. Em vários momentos eles invejam abertamente o fato de os gerentes chineses poderem exigir de seus trabalhadores jornadas diárias de 12 horas, com apenas duas folgas mensais, e que trabalhem em silêncio completo para “evitar distrações”. Ou seja, ecoando as lições de Marx, Foucault, e Chaplin, fica evidenciado (mais uma vez, e de forma evidente) que o desejo pelo controle completo sobre os corpos dos trabalhadores é consequência direta dos imperativos de “competitividade”. A maior preocupação que se abate sobre os gerentes estadunidenses parece vir justamente no momento em que eles percebem a cultura de “democracia” e “direitos individuais” – ainda que com todos seus problemas e contradições – como um obstáculo à uma submissão ainda maior do trabalho ao capital.
Em meio a tantos pontos levantados pelo filme, acho que dois merecem atenção especial. O primeiro deles é justamente a questão da “disciplina” e do “comprometimento” exigido dos trabalhadores. Em determinado momento, um grupo de gerentes estadunidenses visita o que parece ser a sede da Fuyao na China. Lá, fica nítido o encantamento deles com a disciplina militarizada imposta nas fábricas na companhia. Em vários momentos eles invejam abertamente o fato de os gerentes chineses poderem exigir de seus trabalhadores jornadas diárias de 12 horas, com apenas duas folgas mensais, e que trabalhem em silêncio completo para “evitar distrações”. Ou seja, ecoando as lições de Marx, Foucault, e Chaplin, fica evidenciado (mais uma vez, e de forma evidente) que o desejo pelo controle completo sobre os corpos dos trabalhadores é consequência direta dos imperativos de “competitividade”. A maior preocupação que se abate sobre os gerentes estadunidenses parece vir justamente no momento em que eles percebem a cultura de “democracia” e “direitos individuais” – ainda que com todos seus problemas e contradições – como um obstáculo à uma submissão ainda maior do trabalho ao capital.
Este olhar dos gerentes estadunidenses sobre os elementos que fazem das fábricas chinesas mais produtivas do que as suas próprias revela o segundo aspecto do documentário a ser destacado. Em vários momentos, o filme revela uma sujeição dos trabalhadores estadunidenses a várias práticas imperialistas tradicionalmente impostas ao Sul Global por suas próprias corporações. O desejo expresso pelo gerente estadunidense de melhorar para um dia ser tão competitivo quanto os chineses é símbolo disso, assim como as várias falas de trabalhadores da Fuyao em Dayton revelando a insatisfação com as exigências impostas pelos gerentes chineses, ou o fato de as reclamações sobre a displicência da Fuyao em relação a normas de segurança no trabalho serem tratadas como questão de defesa da soberania nacional dos EUA. Talvez o caso mais gritante seja, ainda no começo, Cao dizer que o sucesso da fábrica da Fuyao em Ohio pode se tornar um grande exemplo da capacidade estadunidense de atrair investimento estrangeiro. Ora, as lições clássicas de Lenin nos dizem que imperialismo é essencialmente exportação de capital. Ao mesmo tempo, a posição de dependência criada pela necessidade de atração de investimento estrangeiro é tradicionalmente nossa em relação aos EUA (assim diz a história do século XX). A relação entre o estadunidense e o chinês mostrada no documentário oscila entre dois extremos: de um lado uma mistura nacionalista de xenofobia e anticomunismo, e de outro os anseios pela capacidade produtiva e dinamismo industrial chinesa. Os paralelos entre tais extremos nos casos de resistência e entreguismo ao imperialismo na história política brasileira tornam ambos muito familiares pra nós, ainda que de um jeito estranho. Estariam os Estados Unidos da América se tornando a periferia do imperialismo financeiro chinês?
A resposta não é simples. O documentário demonstra ter o cuidado de apresentar o tema sem recorrer a uma linguagem xenofóbica, evitando endossar o discurso trumpista. Ao mesmo tempo, é difícil ignorar que o “vilão” da narrativa não é apresentado como “capitalista” ou “imperialista” em momento algum, mas sempre como “chinês”, um “Chairman” (nunca “CEO”) que reproduz a figura de Mao, ou Xi Jinping, em escala reduzida. Nesse sentido, ele parece se equilibrar de maneira hábil no esforço de apresentar uma solução do partido democrata a um tema dominado pelo partido republicano.
O filme apresenta uma realidade de reconfiguração geopolítica do capitalismo que não cabe nos modelos estabelecidos. Por um lado, cabe questionar até que ponto a atuação da Fuyao se diferencia do que conhecemos como imperialismo capitalista. Em consequência, questiona-se até que ponto a atuação geopolítica da China é diferente de imperialismos anteriores. Por outro lado, o fato de o filme retratar esse tipo de atuação nos Estados Unidos, e não no Sul Global, nos leva a questionar se os EUA ainda são realmente o grande baluarte da ordem mundial. E esta última questão nos leva a dois elementos que não aparecem no documentário: o complexo industrial-militar e o capital financeiro de Wall Street.
Uma lição é certa: apesar das condições diferentes, os desafios enfrentados pelos trabalhadores chineses e estadunidenses (e por que não brasileiros) são muito parecidos. Se o filme nos desafia a repensar o mundo, esta solidariedade é um ótimo ponto de partida.
*Pedro Salgado é Pós-doutorando do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Mestre e Doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Sussex. Escreve sobre Relações Internacionais, História Global, e Formação do Brasil.
Top 5 da semana

colunistas
A esquerda radical deveria apoiar Lula desde o primeiro turno. Por quê?
editorial
Mulheres vivas: Contra a barbárie do feminicídio, ocupar as ruas
brasil
O orçamento em jogo: a reforma administrativa cria falsos vilões para esconder os verdadeiros algozes
colunistas
Pe. Júlio Lancellotti e redes digitais
brasil