Dedico esse texto as afilhadas Julieta e Maitê, ao futuro!
Nos últimos dias o governo, mais precisamente o superministro da Economia Paulo Guedes, apresentou um pacote de medidas que no seu conjunto pretendem atacar o “déficit das contas públicas” e criar gatilhos para situações que qualificam como “emergência fiscal”. Estamos diante de um novo capítulo do ambiente de ajuste fiscal permanente com o qual o Brasil vem convivendo ao longo da redemocratização brasileira com nuances diferentes entre os governos, mas que não alteraram significativamente a ideia de “estabilidade a qualquer custo”, mesmo que nos anos lulopetistas alguns leves e insuficientes deslocamentos tenham sido feitos e causado impactos reais na vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. O Brasil navegou entre 1994 e 2016 sob o tacão do superávit primário, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da desvinculação e contingenciamento de recursos das políticas públicas e sociais, da lógica das parcerias público-privadas e organizações sociais do setor público não-estatal contidos no Plano Diretor da Reforma do Estado (1995), um documento orientador de todo o período, e que continha ataques virulentos às conquistas sociais e do regime jurídico único dos servidores públicos (Behring, 2019).
No entanto, é preciso enfatizar, este não é apenas mais um capítulo, não é mais do mesmo. E por algumas razões: desde 2016 estamos sob um golpe de Estado de novo tipo, que tem em seu cerne o aprofundamento do ajuste fiscal, chamado de Novo Regime Fiscal, tendo em vista sinalizar ao mercado um ambiente de negócios que assegura “trabalhadores livres como os pássaros” para aceitarem qualquer trabalho precarizado; e, de outro lado, assegurar o saque ao fundo público, como um suporte imprescindível para o grande capital em tempos de crise – destacadamente os detentores de títulos da dívida pública -, e ao patrimônio público, com a retomada das privatizações, com destaque aos interesses imperialistas sobre as riquezas do país. As medidas de Temer, algumas delas decididas sob bombas no planalto, não deixam sombra de dúvida: a contrarreforma trabalhista, a aprovação da Emenda Constitucional 95, que praticamente congela a correção dos gastos primários do governo federal, e a Emenda Constitucional 93, que estendeu a desvinculação de recursos pela DRU até 2023 e a ampliou para 30%, também para estados e municípios. Temer propunha também uma contrarreforma da previdência, mas não teve correlação de forças para avançar. Essa possibilidade só foi configurada com a legitimidade das urnas, ainda que fundada num ambiente antidemocrático, com a prisão de Lula e as fake news. Ou seja, é preciso ficar claro que o ambiente político e ideológico para que medidas tão agressivas aos direitos e condições de vida e trabalho das maiorias sejam tomadas, é de ataque às liberdades democráticas. O apreço de Guedes pelas prerrogativas que a democracia burguesa assegurou historicamente, a partir da presença dos trabalhadores(as) na cena pública, está na proporção de sua participação na ditadura sanguinária de Pinochet.
Portanto, estamos diante do capítulo mais dramático para os trabalhadores(as) desta saga ortodoxa e destrutiva: o ultraneoliberalismo. O discurso é muito semelhante ao dos anos 90: a crise é do Estado e é necessário que “cada um faça a sua parte” no processo de socialização dos seus custos. Mas no mundo real, ontem e hoje ainda mais, quem paga a conta são os trabalhadores(as), o que se evidencia no recrudescimento dos indicadores sociais brasileiros, destacadamente nos últimos quatro anos. Vejamos, para além da contrarreforma da previdência (que já comentamos na nossa coluna), mas em conexão com ela, alguns elementos do pacote draconiano de medidas de Guedes e Bolsonaro.
Em nome da “emergência fiscal” e do pacto federativo, um duro ataque
Guedes foi para a mídia no dia 5 de novembro de 2019 para falar de um “novo pacto federativo” e da necessidade de uma “nova cultura de responsabilidade fiscal”, como se a Lei de Responsabilidade Fiscal e a EC 95 não fossem suficientemente duras, apresentando ao Congresso três propostas de Emenda Constitucional, complexas e cheias de armadilhas. A proposta de EC do Pacto Federativo (Mais Brasil) acena a inversão do percentual de alocação dos royalties do petróleo que cabem ao governo federal, que passaria para 70% para estados e municípios e 30% para a União, gerando uma distribuição de 400 bilhões ao longo de 15 anos, diretamente aos demais entes federativos. A arrecadação federal do salário-educação – 9,8 bilhões – também iria para os entes federativos subnacionais. As contrapartidas dos estados passam por abrir mão de contenciosos com o governo federal em torno de questões tributárias (Lei Kandir sobre isenções tributárias de ICMS sobre exportações, por exemplo). E, também, pelo apoio à inclusão de estados e municípios na contrarreforma da previdência, num contraponto à desidratação que esta teria sofrido no Congresso, segundo a equipe econômica. Já os municípios que têm menos de 5 mil habitantes teriam que provar que arrecadam 10% de sua receita para continuar existindo, o que coloca em questão cerca de 1.254 cidades brasileiras. Se houve muita irracionalidade, oportunismo e clientelismo político na criação de municípios, esse é um tema delicado que envolve a heterogeneidade estrutural brasileira e processos locais, e ainda mais quando vem de cima para baixo, sem diálogo. A experiência internacional também poderia ser observada, destacadamente a Europa. A França, por exemplo, conta com mais de 16.000 comunas (municípios) mas com uma estrutura muito mais leve e que respeita e assegura as dinâmicas locais, não sendo o critério tributário o único que justifica sua existência.
Há também a criação de um limite para benefícios tributários que tem causado perdas de mais de 4% do PIB na arrecadação, o que vimos criticando e sinalizando (Cf. Salvador, 2017 e 2019), os quais não poderão ultrapassar 2% do PIB até 2026. Aqui cabe discutir sobre quais tributos e setores recaem as isenções fiscais ou gastos tributários, já que nossa crítica se dirige ao impacto das mesmas sobre os recursos das políticas sociais. Sabe-se que está em curso a proposição de uma “reforma” tributária que poderá descaracterizar o financiamento, por exemplo, da seguridade social. Assim, a diminuição das isenções provavelmente não vai impactar o aumento de recursos para a área social. Ao lado disso, quebra-se a lógica orçamentária constitucional que articulava planejamento e orçamento, com a extinção do Plano Plurianual (PPA), o que traria maior flexibilidade ao orçamento público, do ponto de vista da proposta. Ao nosso ver, o que temos é o presenteísmo absoluto na formulação de políticas públicas, a inexistência de planejamento de médio prazo. Outro aspecto é que a União passaria a não dar suporte a entes federativos endividados a partir de 2026, exceto em operações internacionais, o que significa um “cada um por si” federativo, nos termos da ótima crítica de Guilherme Santos Melo, que caracterizou o pacote no seu conjunto como um AI 5 econômico, num breve comentário nas redes sociais.
Mas o ataque mais duro é sobre trabalhadores(as) do serviço público, mais uma vez transformados na Geni, de Chico Buarque, sob pedras e dejetos. Desde a inauguração do neoliberalismo com Collor – quem não se lembra dos discursos sobre os marajás? -, a sanha sobre o serviço público encontrou poucos freios. Os governos do PT recompuseram o quadro de pessoal com concursos públicos em várias áreas (o quadro de assistentes sociais do INSS, por exemplo, dentre outros), mas também aprovaram contrarreformas como a da previdência em 2003, o FUNPRESP, e o incentivo às organizações sociais e similares que fragilizam o serviço público, pois têm a função precípua de contratar trabalhadores(as) com vínculos não estáveis. Mas agora, o que temos é bem pior: a possiblidade de cortar até 25% dos salários dos trabalhadores em caso de “emergência fiscal” com redução proporcional da carga horária por até dois anos, com a justificativa de reduzir as despesas obrigatórias em período de crise. Como estamos em plena crise e o governo federal e vários estados vem descumprindo a regra de ouro segundo a qual não podem contrair dívidas para fazer frente às despesas correntes, tal medida seria de aplicação imediata e ao mesmo tempo iria vigorar como gatilho em crises futuras. Guedes quer economizar 28 bilhões de reais em dois anos, sobre as costas dos trabalhadores do serviço público, o que vem acompanhado da suspensão de progressão funcional (exceto de juízes, ministério público, militares e diplomatas, diga-se dos mais altos salários do país), suspensão de concursos, suspensão de licenças de capacitação, congelamento dos salários, reestruturação de carreiras, e perseguição de funcionários que tenham filiação partidária, que perderiam a estabilidade.
Outro aspecto é a proposta de unificar os pisos da educação e saúde, deixando aos estados e municípios a tarefa de alocar 37% de seus recursos nas duas políticas. A proposta inicial previa uma redução de gastos nessas políticas centrais e a inclusão dos inativos no percentual, o que na prática reduziria o orçamento, mas houve um recuo diante da saraivada de críticas até nas hostes governistas. Há ainda a criação do Conselho Fiscal da República, com participação de representações dos entes federativos, que teria a tarefa de monitorar ações e gerar a tal cultura de responsabilidade fiscal. Evidentemente é um conselho tecnocrático e judicial (o que vem sendo questionado, considerando a autonomia dos poderes) sem qualquer participação de trabalhadores(as). Por fim, temos a EC dos Fundos, que recolhe 220 bilhões de fundos setoriais que estão parados, afetando 248 fundos (dentre eles fundos de políticas sociais ou de interesse público), e cujo objetivo é centralmente pagar a dívida pública – hoje em torno de 5,5 trilhões, equivalente a 79% do PIB brasileiro, o que mostra que o sacrifício sugerido penaliza o país mas afeta muito pouco a dinâmica da dívida, colada à taxa Selic. Existe alguma previsão de alocação desses recursos para políticas de combate à pobreza e investimentos de infraestrutura, mas o acompanhamento que vimos fazendo do orçamento nos diz que tal menção são lantejoulas para tornar a proposta mais atraente. Há uma desindexação das despesas obrigatórias que passam a não ser corrigidas pela inflação abrindo o flanco para sua redução, exceto a previdência e o BPC. Esse pacote se combina a uma ofensiva quanto às privatizações, com destaque para a Eletrobras, mas que inclui até a Casa da Moeda.
Em linhas gerais, essas são as propostas. Será que elas buscam atender ao objetivo de equilíbrio/estabilidade fiscal? Somos da opinião de que serão ineficazes quanto a este objetivo, mas muito consistentes para socializar o custo da crise com os trabalhadores. A contrarreforma do Estado de FHC, a partir de 1995, anunciava o controle da dívida, ter recursos para investimentos. Suas medidas foram tomadas e esses objetivos não foram efetivamente alcançados. Já a transferência de 49 bilhões de dólares em patrimônio público para mãos privadas foi um sucesso. O destino do pacote de Guedes tende a ser o mesmo. Ademais nos perguntamos se medidas drásticas e que culpabilizam os trabalhadores do serviço público seriam necessários. O discurso de que “não há dinheiro para nada” é mentiroso. A conta que fazem reduz os gastos públicos aos gastos primários correntes, deixando de lado a monumental gambiarra de recursos que é o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida pública, o primeiro item de gasto do governo federal, e que retira em média 30% do orçamento brasileiro variando ano a ano para menos ou mais. Nenhuma dessas medidas coloca a dívida em xeque, pelo contrário: mantém o país refém desta lógica, inclusive extinguindo fundos para continuar pagando, remunerando o capital portador de juros, às custas da expropriação de milhões de trabalhadores(as). Portanto, são medidas que na prática “enxugam gelo” no que se refere ao déficit das contas públicas, ao passo em que socializam os custos da crise.
A emergência é social
Enquanto o pacote é tratado pela grande imprensa como algo do “governo que trabalha” apesar de algumas fricções pontuais com os “excessos” presidenciais, a verdadeira emergência, a social, vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos e explosivos. Nos últimos dias nos deparamos com notícias alarmantes: os trabalhadores(as) sem carteira assinada e sem direitos já somam o recorde de 11,8 milhões, e este tem sido o resultado da contrarreforma trabalhista; em São Paulo um(uma) trabalhador(a) da periferia ou de comunidades pobres vive 20 anos a menos que nos bairros de classe média e alta, o que nos mostra o impacto da contrarreforma da previdência sobre estes setores, destacadamente as mulheres e negros(as), que dificilmente conseguirão contribuir por 15 ou 20 anos, quanto mais por 40 anos para ter acesso ao teto; metade dos brasileiros vivem em média com R$ 413,00, dado da PNAD/IBGE e que se relaciona à passagem, desde 2015, de um milhão de pessoas por ano para abaixo da linha de pobreza; o número de ambulantes aumentou em 510% no mesmo período. Frente a isso, a resposta de Guedes é colocar em questão porque os pobres não poupam (SIC!) e o congelamento do salário mínimo. Trata-se do mais profundo darwinismo social ultraneoliberal, de um ataque inédito aos trabalhadores(as) do setor público e privado. Temos hoje, juntando todas as faixas de desemprego do IBGE, cerca de 30 milhões de desempregados(as). É uma imensa tragédia que essa proposta não tem qualquer condição de enfrentar, ou mesmo o desejo, já que se orienta por uma visão meritocrática, segundo a qual o desemprego é um problema individual e os bens e serviços devem ser acessados no sacrossanto mercado deificado. O que vemos como precarização e trabalho sem direitos, eles veem como empreendedorismo.
Em texto anterior falávamos em devastação do país e da urgência de uma resposta de conjunto da classe trabalhadora (Cf.). Reafirmamos a mesma posição. A única chance de que “o futuro não seja um pesadelo”, como disse Lula ao sair da prisão, é derrotar esse projeto neofascista e ultraneoliberal nas ruas. A saída para os trabalhadores é a luta e a construção de uma frente de esquerda no país. Tarefa hercúlea após tantas derrotas recentes, mas inarredável para aqueles e aquelas cuja vida só tem sentido no presente se plantarmos sementes de um futuro sem exploração e opressão, sem muros e onde a diversidade humana seja reconhecida.



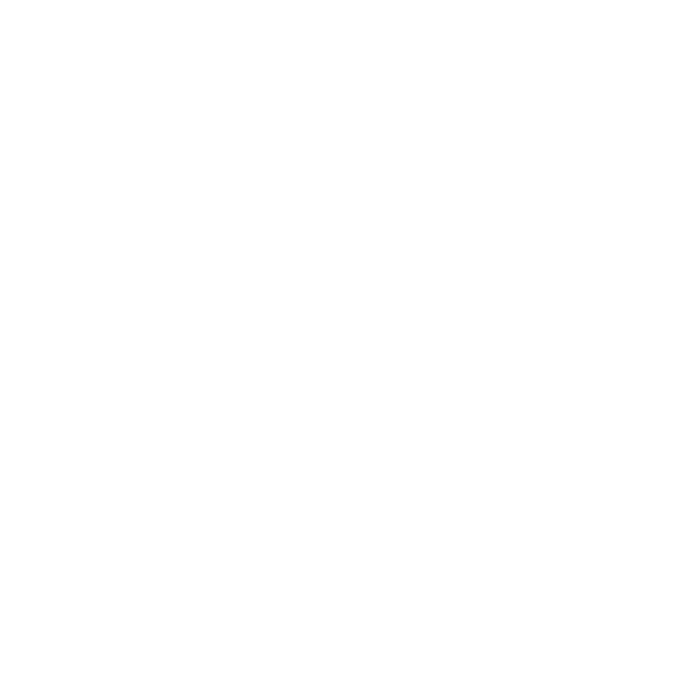
Comentários