Por: Pedro Rosa, de Porto Alegre
Hoje em dia é um fato claro, sobretudo nos espaços digitais, que há uma nova e significativa corrente da direita intitulada “libertária”. Embora a palavra tenha surgido para descrever correntes da esquerda revolucionária que lutavam com igual intensidade pelo fim tanto do Estado quanto do capitalismo, seu uso contemporâneo faz uma quebra significativa com esses ideais. Essa vertente política tem origem nas obras de economistas da Escola Austríaca, como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard e Hans-Hermann Hoppe, e da Escola de Chicago, como Milton Friedman. Hoje em dia, é propagada principalmente por think tanks como o Instituto Cato, o Instituto Mises e a Fundação Atlas. Da sua origem na esquerda, mantém a sua oposição ao poder estatal – dando apoio, porém, ao capitalismo.
Os autores citados, com a exceção de von Mises e Hoppe, estiveram ativos principalmente na década de 1970, quando começa o ganho de poder social pelo mundo corporativo e financeiro (o que nós, como marxistas, chamamos de burguesia) e a sua perda por grupos trabalhistas (que nós chamamos de proletariado), processo sintoma do neoliberalismo. Não vem como surpresa, portanto, que o novo libertarianismo resgate elementos e categorias do pensamento filosófico desta classe que, já dominante, ganha mais força. O liberalismo clássico está no centro da análise e da prática libertária. Há um grande problema, porém, em analisar a realidade por meio do liberalismo clássico: ele usa categorias ultrapassadas de entendimento da sociedade.
A noção de direitos do ser humano para John Locke, resumida em vida, liberdade e propriedade privada, é um exemplo disso*. Em uma sociedade feudal, dividida em rígidos estamentos, era revolucionária a noção de que todo ser humano tem os mesmos direitos. O direito à propriedade privada, especificamente, era um ataque aos privilégios da nobreza, justificados pela noção do “direito divino” que tinham às suas terras e à servidão dos camponeses que viviam nelas. No novo libertarianismo, estes direitos têm forma no Princípio de Não-Agressão (PNA); na formulação de Rothbard:
Ninguém deve ameaçar ou cometer violência (agressão) contra outro homem ou sua propriedade. A violência só pode ser aplicada contra aquele que inicia cometendo-a.¹
Vê-se, assim como em Locke, uma defesa convicta do direito à propriedade – inclusive sendo permitido o uso de violência para protegê-la. No entanto, há uma diferença fundamental entre a formulação dos filósofos iluministas e esta, diferença que tem raiz nos contextos em que as teorias surgiram. A primeira surgiu na sociedade feudal, em que a classe dominante era a nobreza e o pensamento revolucionário tinha caráter burguês; a segunda, na sociedade capitalista, em que a classe dominante é a burguesia. Enquanto no modo social em que a primeira surgiu um indivíduo tinha propriedade por ser parte da classe dominante, na segunda, um indivíduo torna-se parte da classe dominante por possuir propriedade.
Outro exemplo, complementar a este, é o contrato social. A categoria foi originalmente criada para explicar por que o homem primitivo – visto como um ser isolado e individualista – acabou por se juntar a outros e fundar a sociedade. Estabelecer a sua natureza foi um problema tão importante para a filosofia ocidental que os filósofos que se empenharam a tal tarefa recebem a alcunha de “contratualistas”, a despeito de suas outras contribuições ao pensamento. Novamente, a categoria faz parte de uma quebra com o feudalismo . É, inicialmente, uma tentativa de explicar a sociedade humana sem a participação ativa de Deus, intrínseca ao pensamento do período. O que o liberalismo clássico utiliza, no entanto, não é a própria categoria de contrato social, mas a sua negação – a ideia isolada e individualista do homem primitivo, apelidada de “teoria Robinson Crusoé” da economia. Karl Marx explica, na introdução à Contribuição para a Crítica da Economia Política, que esta concepção nada é senão resultado da própria transição de uma sociedade feudal à sociedade capitalista – e, portanto, do desaparecimento dos antigos laços sociais. Ele esclarece que o ser humano
não é simplesmente um animal social, é também um animal que só na sociedade se pode individualizar. A produção realizada por um indivíduo isolado, fora do âmbito da sociedade – fato excepcional, mas que pode acontecer, por exemplo, quando um indivíduo civilizado, que potencialmente possui já em si as forças próprias da sociedade, se extravia num lugar deserto – é um absurdo tão grande como a ideia de que a linguagem se pode desenvolver sem a presença de indivíduos que vivam juntos e falem uns com os outros.²
Marx estabelece que a atividade produtiva-criativa é, em sua essência, uma atividade social. Assim como, usando de sua analogia, não fariam sentido construções da linguagem para um ser humano completamente isolado da sociedade desde o seu nascimento (mesmo estas construções sendo fisicamente possíveis) , também não faz sentido a atividade produtiva-criativa sem um propósito social. É a atividade produtiva-criativa – que é, em termos mais explanatórios, o ato de apropriação da natureza pela espécie humana por meio do trabalho e as transformações subsequentes que esta faz para dar função social ao que foi apropriado. Ela é a mais essencial atividade humana. É com ela que surge a própria sociedade, e a partir dela que surge a atividade econômica como um todo.
O contrato social é, portanto, uma noção superada no pensamento sobre a sociedade. Superada não por uma rejeição consciente e consequente reivindicação da sua antítese no ser humano isolado (pois reivindicar uma antítese significa reconhecer uma tese), mas pela compreensão de que o ser humano isolado não existe e jamais existiu na natureza. Quando era isolado, não era ser humano; quando se torna ser humano, não é mais isolado. Superando o contrato social, superamos também a noção Lockeana de direitos humanos. Vida, liberdade e propriedade tornam-se abstrações sem o contrato social para protegê-las. E a concepção libertária de Rothbard, por mais que o negue, também segue a mesma estrutura: os direitos de vida e propriedade são protegidos contra agressão por um contrato seguido por toda a sociedade – na melhor das hipóteses – que permite o uso de violência contra os agressores.
O que substitui estes dois conceitos? A noção de que o ser humano recebe o contexto que a sociedade, da qual ele é inseparável, lhe fornece**. Pobreza e riqueza, escravidão ou liberdade; todas são condições criadas pela vida em sociedade e inseparáveis de um contexto social. A tese liberal clássica, expandida pelo libertarianismo, de que o capitalismo seria uma “ordem voluntária”, cai por terra com este entendimento. Se o indivíduo é inseparável do seu contexto social, ele sempre estará sendo coagido a certos comportamentos e, consequentemente, a certas ações. Como exemplo disso, o argumento muito usado de que a relação capitalista de trabalho nada mais é do que uma negociação mutuamente benéfica entre empregado e patrão é enganoso. Enquanto existe a ameaça do desemprego – e, com ele, fome e miséria – o trabalhador é pressionado a aceitar qualquer acordo que o ponha em uma condição melhor. Enquanto isso, o patrão tem a seu dispor uma grande oferta de potenciais empregados, resultado, também, da condição do desemprego. Como quando negocia por uma mercadoria, ele pode comparar preços, cotações e vantagens antes de se decidir pelo melhor. A sua própria posição como patrão é resultado do contexto social do capitalismo, pois aquilo que o trabalho humano apropria da natureza e transforma em meio para mais produção torna-se propriedade privada apenas devido ao seu reconhecimento e proteção pelo Estado.
Há um terceiro pilar do libertarianismo, que é a sua concepção do Estado. Este pilar conecta os outros dois já citados. Na visão libertária, o Estado é uma construção que encarna a forma atual do contrato social, e necessariamente ameaça os direitos do ser humano isolado. Dependendo da corrente de pensamento, alterna entre a concepção aristotélica de “regra da multidão”, onde uma maioria decide, em benefício próprio, pela opressão de uma minoria, ou o Leviatã de Thomas Hobbes, um monstro completamente fora do controle de toda a sociedade além de uma minúscula casta parasitária.
Ambas as concepções são, de certa forma, enganosas: enquanto a primeira, hoje menos propagada, põe demasiada fé nas instituições democráticas – a despeito de todas as medidas impopulares que os governos passam contra a maioria, e que são respondidas com protestos das massas – a segunda interpreta mal e aliena o caráter do Estado. Ao invés desta suposta instituição quase mística, além do alcance dos seres humanos, ele nada mais é do que um construto das próprias relações humanas. E não há expressão melhor das relações que dão origem ao Estado do que a de conflitos de interesses entre diversos grupos com interações diferentes quanto à atividade produtiva-criativa, a mesma com a qual a própria sociedade surge – grupos aos quais ele tem papel de mediador.
Concretamente, isso é visível na maneira em que o poder estatal defende, com seu monopólio da violência, a propriedade privada – mas, em alguns contextos, também garante os direitos dos trabalhadores e o bem-estar das camadas mais empobrecidas desta classe. Não faz sentido retratá-lo como uma instituição totalmente independente . Por mais que, em contextos raros, possa vir a agir dessa forma em aparência, o Estado é largamente um veículo dos conflitos dentro da sociedade. Um dos grupos (chamados, no pensamento marxista, de classes) quase sempre terá a vantagem – e usará do poder estatal como instrumento para subjugar as outras classes.
Alguns elementos da análise libertária estão corretos, e são, também, reivindicações dos socialistas. O principal entre estes é a própria crítica ao Estado burguês. Ambas as correntes concordam que ele é, parafraseando Marx, o “comitê de negócios da classe dominante”³. No entanto, o uso das citadas categorias de entendimento ultrapassadas previne tanto uma análise libertária que considere a realidade em sua totalidade quanto uma ação efetiva contra a dominação que o Estado – como instrumento da classe proprietária – pratica. Muitos jovens libertários, inclusive, têm bons fundamentos éticos, mas, por causa da dificuldade de acesso às ciências humanas, muitas vezes especialmente ao pensamento marxista, ficam presos a teorias ultrapassadas que, embora tenham a retórica da burguesia em sua época revolucionária, hoje ressoam com os interesses desta como classe dominante. O libertário busca o que vê como uma mudança radical da sociedade, um movimento revolucionário – mas, nas palavras de Vladimir Lenin:
Sem teoria revolucionária, não pode haver movimento revolucionário.4
*Vale esclarecer que, com esta afirmação, o autor não quer dizer que os direitos humanos devam ser descartados do ponto de vista ético. Quer dizer, apenas, que já foram historicamente suplantados como conceito para entender a sociedade.
**E a outra parte da dialética, igualmente importante: o que ele, baseado no que interpreta a partir de seu contexto social, constrói.
¹ROTHBARD, Murray. Guerra, Paz e o Estado. In: ROTHBARD, Murray. Igualitarismo como uma Revolta Contra a Natureza e Outros Discursos. Nova Iorque: Instituto Ludwig von Mises, 1972. p. 115-132.
²MARX, Karl. Contribuição para a Crítica da Economia Política. 1859. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1859/contcriteconpoli/introducao.htm>. Acesso em: 04 jan. 2017.
³Frase original na tradução: “O moderno poder de Estado é apenas uma comissão que administra os negócios comunitários de toda a classe burguesa.”
MARX, Karl. Manifesto do Partido Comunista. 1848. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1848/ManifestoDoPartidoComunista/cap1.htm>. Acesso em: 05 jan. 2017.
4LENIN, Vladimir. Que Fazer? 1902. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/lenin/1902/quefazer/cap01.htm>. Acesso em: 04 jan. 2017.



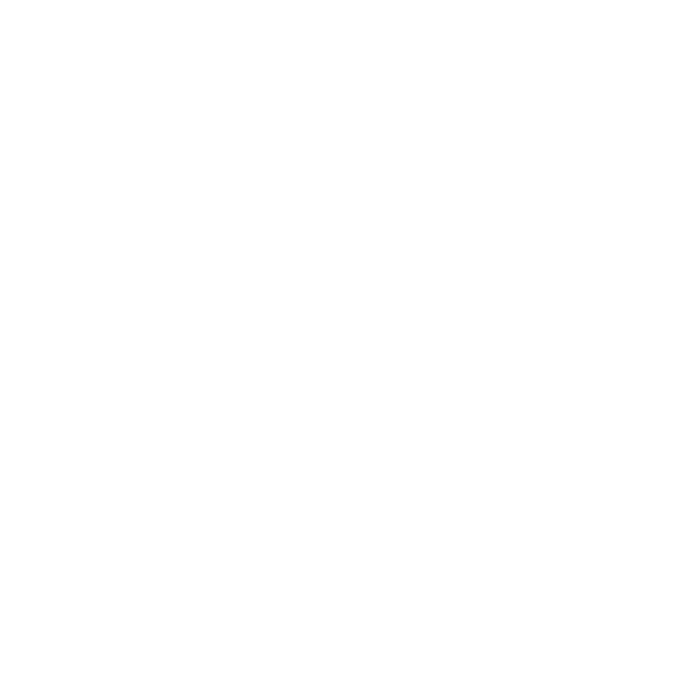
Comentários